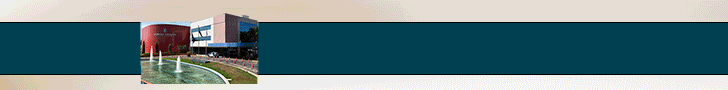Estou aqui há algum tempo me perguntando se escrevo ou não escrevo sobre o livro. Me lembro do chato dizendo que ninguém se interessa por livros. Hesito, mas… bom, se você está lendo este texto, é porque decidi escrever. Decidi dar meu testemunho, um testemunho atrapalhado, como se verá, do que considero um milagre. Uma decisão que me leva de volta à igreja evangélica que frequentei na infância, e na qual as pessoas assumiam o microfone para contar como Deus tinha mexido na vida delas. Pressupondo sinceridade, havia beleza naquilo.
Ou talvez eu esteja dizendo isso apenas para justificar a decisão de escrever e recomendar um livro que não está na moda nem ganhou o noticiário por ter sido recolhido. Um livro sobre o qual falei aqui na semana passada, en passant, ao propor uma reflexão difícil de engolir: até os piores talvez sejam melhores do que a gente em alguma coisa. Um livro cuja leitura, nesta última semana, não foi nada menos do que um milagre.
Mas chega de bancar o João Kléber. O livro de que falo é “A Madona de Cedro”, de Antônio Callado. E se ao ouvir esse nome você foi logo pensando num intelectual ateu e comunista… você está certo e ao mesmo tempo errado. Certo porque o elegante Antônio Callado (“o único inglês da vida real”, na definição de Nelson Rodrigues) era ateu e comunista. Errado porque o fato de “A Madona de Cedro” ter sido escrito por um ateu e comunista só torna o livro ainda mais incrível, fantástico, extraordinário, maravilhoso, fabuloso, assombroso, espantoso, admirável, magnífico, sensacional, sublime, fascinante e impressionante.
Acho que me empolguei um pouco aqui. Mas é que estou mesmo entusiasmado com a ideia de ter sido abençoado com um milagre ao deixar de lado a leitura de “O Cais da Sagração”, de Josué Montello (ótimo livro; vou retomar), e rapidamente engrenar “A Madona de Cedro”. Uma decisão sem motivo aparente algum, e que se revelou transformadora. Do “A Madona…” eu sabia apenas que tinha virado minissérie da Globo nos anos 1990 (nunca assisti). Do Callado eu só tinha um pouco de preconceito. E, no entanto, cedendo a uma vontade incontrolável e inexplicável, comprei o livro e comecei a ler e.
Perdão
Este é aquele momento em que faço uma sinopse do livro. Mas tenha em mente que não sou bom de sinopses. Ainda assim: “A Madona de Cedro” conta a história de Delfino, um comerciante de Congonhas, cidade histórica de Minas Gerais, que se vê envolvido no roubo de imagens do período barroco. Ao longo de 13 anos, a consciência do pecado molda a vida de Delfino. Até que ele tem a oportunidade de pecar mais uma vez. O resto não conto porque seria estragar a experiência da leitura, como dizem hoje em dia.
A trama simples esconde personagens complexos, certa tensão típica dos enredos policiais, e o mais importante: reflexões necessárias sobre o erro, a culpa e o perdão – e olhe que não estamos falando aqui de erros “simbólicos”, e sim de um roubo de arte sacra. Algo que, no Brasil dos anos 1960, quando o romance foi escrito, era tão ou mais grave do que o roubo de dinheiro público que tanto revolta o brasileiro de hoje.
Mas e o milagre, cadê? – você me pergunta. Ao que eu retruco com um “ué?”. Não é óbvia a forma como o livro entrou em minha vida assim, do nada e justamente neste momento em que é tão fácil escorregar e, ops!, afundar aos poucos na areia movediça da amargura que brota de um cotidiano de injustiças e deslealdades? “A Madona de Cedro” foi o cajado que Deus estendeu para me tirar dessa vala. Na qual provavelmente cairei de novo, e serei tirado de novo, e cairei de novo, e serei tirado de novo.
E é a tal coisa. Eu poderia ter ficado callado (bu-dum-tss) e guardado a epifania para mim. Mas não me contive – tampouco seria o certo. Porque gostaria que minha epifania o contagiasse. Escrevi este texto, pois, não como uma crítica definitiva de “A Madona de Cedro”. Que nada. Aliás, este texto nem uma resenha chega a ser. Ele está mais para uma tentativa atrapalhada de chamar sua atenção para o livro, aliada à esperança de que ele consiga despertar em você a mesma coisa que despertou em mim: uma consciência mais profunda de minha pequenez, bem como uma estranha e milagrosa necessidade de perdoar e de pedir perdão.
Trecho
Quer um trecho do livro? Então aqui vai um trecho do livro:
“Padre Estêvão viu num lampejo a penitência:
— Meu filho — disse ele —, depois vamos à igreja ouvir a sua confissão, com os pormenores. Mas como penitência você vai tirar da parede a cruz de Feliciano Mendes, que há duzentos anos se expõe ali à curiosidade dos visitantes, e vai levá-la por Congonhas do Campo em fora, subir e descer as nossas ladeiras, passar pelos Passos da Cruz e trazê-la de volta à sua parede para outro repouso talvez de dois séculos.
Delfino tinha ouvido o padre de boca aberta. Parecia que um mau eco do passado enchia aquela saleta tão simples e tão pura. Lembrava-se da voz a um tempo untuosa e estridente do sacristão sugerindo-lhe que carregasse a cruz de Feliciano Mendes. Padre Estêvão devia estar brincando. Para que havia ele de se cobrir de ridículo saindo pela rua com aquela imensa cruz de madeira nas costas?…
— Mas, padre Estêvão… Eu não me incomodo que se riam de mim, ou até que me joguem pedras na rua… Podem me bater de chicote, como bateram em Nosso Senhor, se eu sair de cruz nas costas… Mas… o que é que isso adianta?
— Você se incomoda, sim, Delfino. Sua vida tem sido um longo ato de respeito pela opinião dos outros. Se o meu pecado tem sido a preguiça e sua irmãzinha dileta, a procrastinação, o seu, Delfino, tem sido esse recato, essa tibieza, como se a estrada da vida estivesse para você calçada de ovos. Vá, meu filho, vá e arroste todo o mundo com a sua cruz e a sua fé. Vá. Não podendo impelir você a nada — porque você, se não tem amado o próximo, tem ficado sempre de olho nele —, Deus até agora só pode usar você como linha torta para escrever a história dos outros. Vá e comece a viver a vida que é a sua”.
noticia por : Gazeta do Povo