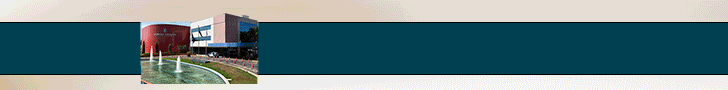O texto a seguir é um trecho do livro ‘Império da Dor’, lançado no Brasil em 2023 pela editora Intrínseca e que narra a história de uma empresa farmacêutica fabricante de um dos medicamentos responsáveis pela crise de opioides nos EUA. Escrita pelo jornalista Patrick Radden Keefe, repórter da revista New Yorker, a obra foi adaptada pela Netflix no formato de minissérie e se tornou um dos programas do serviço de streaming mais assistidos em todo o mundo no ano passado.
A sede nova-iorquina do escritório de direito internacional Debevoise & Plimpton ocupa dez andares de um edifício preto reluzente numa alameda de arranha-céus no centro de Manhattan. Fundado em 1931 por uma dupla de advogados de sangue azul oriundos de um respeitado escritório de Wall Street, o Debevoise também conquistou respeito, crescendo ao longo de décadas até se consolidar como uma potência global com oitocentos advogados, uma lista de clientes valiosos e uma renda anual de quase US$ 1 bilhão. Não há mais vestígio do couro e da madeira que caracterizaram as origens rústicas da firma, substituídos por uma decoração nos tons banais do típico ambiente corporativo contemporâneo, com corredores acarpetados, salas de conferência envidraçadas e escrivaninhas. No século XX, o poder anunciava a si mesmo. No século XXI, a melhor maneira de reconhecer o poder real é pela sua reserva.
Numa manhã límpida e fria de primavera em 2019, enquanto o reflexo das nuvens deslizava pelo vidro escuro da fachada, Mary Jo White entrou no edifício, subiu de elevador até a sede do Debevoise e assumiu seu lugar numa sala de conferências que vibrava com uma energia reprimida. Aos 71 anos, White era, até mesmo por suas características físicas, um epítome do poder reservado. Era mirrada — mal chegava a 1,50 metro de altura, seu cabelo castanho era cortado rente e tinha olhos murchos —, e seu jeito de falar era direto e despretensioso. Mas ela era boa de briga. Às vezes, brincava que sua especialidade eram os casos “complicados”: contratá-la não era barato, mas, se você estivesse enrascado e por acaso tivesse muito dinheiro, era ela a advogada que você procuraria.
White foi promotora federal do Distrito Sul de Nova York por
quase uma década, e lá processou os autores do atentado a bomba contra o World
Trade Center em 1993. Barack Obama a nomeou presidente da Comissão de Valores
Mobiliários. Mas, entre um mandato e outro, ela sempre retornava ao Debevoise.
Ingressou na firma como uma jovem associada e tornou-se a segunda mulher a se
tornar sócia. Representava os grandes: Verizon, JP Morgan, General Electric,
NFL.
A sala de conferências fervilhava de advogados, não apenas do Debevoise, mas de outras firmas também. Eram mais de 20, com cadernos de anotações, notebooks e fichários imensos, abarrotados de post-its. Havia um telefone com viva-voz na mesa, e outros 20 advogados de várias partes do país estavam do outro lado da linha. A ocasião que motivou a reunião desse pequeno exército de advogados era o depoimento de uma cliente de longa data de Mary Jo White, uma bilionária reclusa que estava no centro de um furacão de processos alegando que a acumulação de seus bilhões de dólares levara à morte de centenas de milhares de pessoas.
White certa vez observou que, quando era promotora, seu trabalho era simples: “Faça a coisa certa.Você está indo atrás dos bandidos. Está fazendo algo bom para a sociedade todos os dias”. Porém ali a situação era mais complicada. Advogados corporativos de grande porte como White são profissionais habilidosos, com certa respeitabilidade social, mas a alma do negócio é o foco no cliente. Essa é uma dinâmica conhecida por muitos promotores, que precisam pagar a dívida do financiamento estudantil ou as parcelas da casa própria. Na primeira metade da carreira, perseguem os bandidos; na segunda, os representam.
O advogado que conduziria o interrogatório naquela manhã era um homem de quase 70 anos chamado Paul Hanly. Ele não se parecia com os outros. Era um advogado de querelantes em ações coletivas. Gostava de ternos sob medida e cores arrojadas, e camisas de alfaiataria com colarinho engomado e contrastante. O cabelo grisalho em tom grafite era penteado para trás, e os olhos penetrantes eram realçados por óculos de tartaruga. Se White era uma mestra do poder reservado, Hanly era o oposto: parecia um advogado do Dick Tracy. Mas era competitivo como White e tinha um desprezo visceral pelo verniz de propriedade que pessoas como ela traziam para aquele tipo de incumbência. Não vamos nos enganar, pensava Hanly. Na sua visão, os clientes de White eram “imbecis arrogantes”.
A bilionária que estava sendo interrogada naquela manhã era uma mulher de 70 e poucos anos, uma médica, embora nunca houvesse exercido de fato a profissão. Tinha cabelo louro e um rosto largo, com testa grande e olhos arregalados. Seus modos eram bruscos. Seus advogados haviam feito de tudo para evitar o depoimento, e ela não queria estar ali. Projetava a impaciência casual, pensou um dos advogados presentes, de alguém que nunca espera na fila para embarcar num avião.
“Seu nome é Kathe Sackler?”, perguntou Hanly, e a bilionária confirmou.
Kathe era da família Sackler, uma proeminente dinastia filantrópica de Nova York. Alguns anos antes, a revista Forbes a classificara como uma das 20 famílias mais ricas dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada em cerca de U$ 14 bilhões, “desbancando famílias célebres como Busche, Mellon e Rockefeller”. O nome Sackler adornava museus de arte, universidades e instalações médicas no mundo. Da sala de conferências, Kathe poderia ter percorrido 20 quarteirões até o Sackler Institute of Graduate Biomedical Sciences, um instituto de pós-graduação em ciências biomédicas da faculdade de medicina da Universidade de Nova York (NYU), ou seguido dez quarteirões na outra direção até a ala Sackler do museu Metropolitan, e continuar na Quinta Avenida até o Sackler Center for Arts Education, o centro de educação artística no museu Guggenheim.
Nas seis décadas anteriores, a família Sackler deixara sua
marca na cidade de Nova York assim como os Vanderbilt ou os Carnegie já haviam
feito. Mas os Sackler eram mais ricos do que qualquer uma dessas famílias,
cujas fortunas remontavam à Era de Ouro. E as doações que eles faziam se
estendiam bem além de Nova York: o Sackler Museum, em Harvard; a Sackler School
of Graduate Biomedical Sciences, em Tufts; a Sackler Library, em Oxford; a ala
Sackler, no Louvre; a Faculdade de Medicina Sackler, em Tel Aviv; e o Museu
Sackler de Arte e Arqueologia, em Pequim.
“Meus pais tinham fundações desde que eu era pequena”, disse Kathe a Hanly. Eles contribuíam para “causas sociais”.
Os Sackler haviam doado centenas de milhões de dólares, e por décadas o nome da família foi associado à filantropia pela opinião pública. Um diretor de museu os comparou aos Médici, o nobre clã quinhentista de Florença cujo mecenato ajudou a dar origem ao Renascimento. Mas, enquanto a família florentina fez fortuna com atividades bancárias, a origem precisa da riqueza dos Sackler permaneceu, por muito tempo, obscura. Membros da família concediam seu nome a instituições de arte e educação em uma espécie de compulsão. O nome era gravado em mármore, marcado em placas de metal e até escrito em vitrais. Havia cátedras Sackler, bolsas de estudo Sackler, séries de palestras Sackler e prêmios Sackler. No entanto, para um observador casual, podia ser difícil ligar o nome da família a algum negócio que pudesse ter gerado toda aquela riqueza. Conhecidos viam a família em jantares de gala e eventos filantrópicos nos Hamptons, em um iate no Caribe ou esquiando nos Alpes suíços e se perguntavam, aos sussurros, como ganhavam dinheiro. E isso era estranho, porque o grosso da riqueza dos Sackler fora acumulado não na era dos barões ladrões, mas em décadas recentes
— Você se formou na NYU em 1980, certo? — disse Hanly.
— Correto — respondeu Kathe Sackler.
— E na faculdade de medicina da NYU em 1984?
— Sim — confirmou a interrogada.
E era verdade, quis saber Hanly, que ela tinha ido trabalhar
para a Purdue Frederick após uma residência cirúrgica de dois anos?
A empresa era uma fabricante de medicamentos que depois se tornou conhecida como Purdue Pharma. Com sede em Connecticut, era a fonte da maior parte da fortuna dos Sackler. Embora eles tendessem a insistir, por meio de elaborados contratos de “direito ao nome”, que qualquer galeria ou centro de pesquisa que recebesse sua generosidade deveria exibir com proeminência o nome da família, o negócio da família não tinha o nome dos Sackler. Na verdade, é possível fazer uma varredura no site da Purdue Pharma e não encontrar nenhuma menção a eles. Mas a Purdue era uma empresa privada que pertencia inteiramente a Kathe Sackler e outros membros da família. Em 1996, a companhia lançou um medicamento inovador, um potente analgésico opioide chamado OxyContin, anunciado como uma maneira revolucionária de tratar dores crônicas. O remédio se tornou um dos maiores sucessos da história farmacêutica, gerando cerca de US$ 35 bilhões em receitas.
Mas também gerou vício e uso abusivo. Quando Kathe Sackler
se apresentou para depor, os Estados Unidos viviam uma epidemia de opioides em
que americanos de todos os cantos do país se encontravam viciados nesses
remédios fortes. Muita gente que começou abusando de OxyContin acabou passando
para drogas de rua, como heroína e fentanil. Os números eram estarrecedores. De
acordo com os Centros de Controle para Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em
inglês), nos 25 anos que se seguiram à introdução do OxyContin, cerca de 450
mil americanos morreram de overdose de opioides. Essa se tornou a principal
causa de morte acidental no país, ultrapassando o número de óbitos por
acidentes de carro e, inclusive, a causa mais tipicamente americana: armas de
fogo. Na verdade, mais americanos perderam a vida por overdose de opioide do
que em todas as guerras que o país lutou desde a Segunda Guerra Mundial.
Mary Jo White às vezes comentava que adorava a maneira como o direito podia forçar uma pessoa a “destilar as coisas à sua essência”. A epidemia de opioides foi uma crise de saúde pública extremamente complexa. Mas, quando Paul Hanly questionou Kathe Sackler, ele estava tentando dissecar essa épica tragédia humana até as entranhas de suas causas. Antes da introdução do OxyContin no mercado, não havia uma crise de opioides nos Estados Unidos. Depois da introdução do OxyContin, passou a haver.
noticia por : Gazeta do Povo