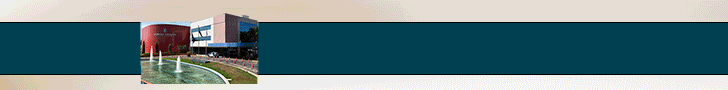O desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês) com carga nuclear e capacidade de destruir metrópoles inteiras após voarem em altíssima velocidade a partir de bases secretas criou a necessidade de sistemas de defesa antimísseis. A partir dos anos 1960, que culminaram na crise dos mísseis de Cuba, os líderes norte-americanos e soviéticos aprenderam o poder da expressão “apertar o botão” para ameaçar com o acionamento do arsenal nuclear e incendiar a superpotência inimiga.
DOPAMINA DIGITAL: leia aqui a primeira parte desta reportagem especial
Essa tensão constante tornou imprescindível o desenvolvimento de sistemas de defesa altamente complexos, que integrassem a identificação de objetos voadores, radares e satélites poderosos para proteger porções continentais de território, canais de comunicação confiáveis e armas de defesa que interceptassem possíveis ICBM inimigos.
A chave para um empreendimento assim funcionar foi a concepção de monitores interativos de computador, uma vez que radares “forneciam mais informação do que uma pessoa poderia lidar”, escreve Lev Manovich, teórico da cultura digital e professor de ciência da computação da Universidade da Cidade de Nova York, no artigo “An Archeology of a Computer Screen”.
O design desses aparelhos e os programas que eles exibiam deveriam mostrar corretamente a trajetória de armas inimigas, o recebimento de ordens de oficiais humanos e ainda agregar tais operações a outros diversos terminais de computador similares.
Nascia assim uma tela que produzia ícones com varredura sequencial, em que “diferentes partes da imagem correspondem a diferentes momentos no tempo”, relata Manovich. Sem a imagem, a interface que torna os humanos capazes de interpretar e operar máquinas e sistemas complexos, computadores seriam quase inúteis no contexto da Guerra Fria.
O maior e mais importante desses projetos foi o sistema Sage (Ambiente Terrestre Semiautomático, em tradução livre), com computadores gigantescos, de cerca de 2.000 metros quadrados, que recebiam informações de radares e mantinham o estado de prontidão de tropas de mísseis.
O Sage foi o maior programa de computador já compilado em sua época, fruto do trabalho de 7.000 engenheiros da IBM, a International Business Machines Corporation. Ele se tornou operacional no fim dos anos 1950, poucos anos após os soviéticos realizarem o primeiro teste nuclear. Estima-se que tenha custado mais do que o Projeto Manhattan — o responsável direto pela necessidade de um sistema de defesa desse tipo.
Mas as estrelas eram as telas: os comandos eram dados diretamente nos monitores CRT (tubo de raios catódicos) com canetas de luz. Foram essas telas gigantes, brilhantes e constantemente atualizadas dentro de salas fechadas que inspiraram muito da estética da Guerra Fria, parodiada em filmes como Dr. Fantástico (1964).
As telas e interfaces criadas para o sistema Sage foram ancestrais diretas dos celulares, dos videogames e dos moderníssimos softwares que integram homens e máquinas, hoje espalhados em cada canto do planeta.
“As tecnologias de blindagem da defesa aérea de meados do século deram origem à concepção da computação como uma colaboração multimídia entre humanos e máquinas. […] Na década de 1980, a computação pessoal e os jogos de fliperama levavam as interfaces multimídia desenvolvidas em torno do Sage para residências e shoppings de bairro em todo o mundo”, escreve Bernard Dionysius Geoghegan, professor de teoria da mídia digital da universidade King’s College London, no artigo “An Ecology of Operations: Vigilance, Radar, and the Birth of the Computer Screen”.
Segundo o pesquisador, muito das interfaces e da chamada “experiência de usuário” das redes sociais atuais são herança direta desses sistemas militares, criados para deixar operadores continuamente de prontidão, recebendo informações e respondendo imediatamente, em uma série de tarefas que culminava em uma “experiência generalizada de ansiedade”.
A rotina de um operador do Sage não era muito diferente do expediente de um trabalhador moderno de escritório, submetido a uma série de sistemas que o deixam constantemente em alerta.
“Recursos de telas interativas de defesa aérea de meados do século — sons que sinalizam a chegada de uma mensagem, notificações urgentes que interrompem a janela da tela, fones de ouvido que permitem comunicações em rede em tempo real e a mistura de elementos gráficos e textuais flutuantes — surgiram como parte do estoque-padrão de técnicas para alavancar os usuários em um estado de alerta constante”, conclui Geoghegan.
Como afirma Friedrich Kittler: “A indústria de entretenimento é, em todos os sentidos, abuso de equipamento militar”. E é fácil confirmar a frase com a popularização da internet (resultado de pesquisas de um sistema de comunicação militar da Darpa que não parasse de funcionar após ataques nucleares), do rádio (derivado dos sistemas de comunicação de tanques de guerra da década de 1930) e do sistema televisivo de transmissão de cores PAL (criado pelo engenheiro nazista Walter Bruch para transmitir de forma segura os lançamentos dos foguetes V-2).
O Google já foi alvo de certa desconfiança quando alcançou um sucesso estrondoso. Em 2008, o jornalista e escritor Nicholas G. Carr perguntou em um artigo da revista The Atlantic: “O Google está nos tornando estúpidos?”. Apesar do dedo apontado para o gigante de buscas, o artigo tinha mais a ver com os efeitos da internet em nosso cérebro.
“Mergulhar em um livro ou artigo extenso costumava ser fácil. Minha mente ficava presa na narrativa ou nas reviravoltas, e eu ficava horas passeando por longos trechos de prosa. Isso raramente é o caso hoje. Agora, minha concentração muitas vezes começa a se desviar depois de duas ou três páginas. […] A leitura profunda, que costumava ocorrer naturalmente, tornou-se uma luta”, escreve Carr, de forma sofrida.
Um dos principais argumentos dele é que o uso de buscas diminuiria a retenção da nossa memória: com a oferta inesgotável de informações ao alcance dos dedos, não era preciso memorizá-las. Assim como o “cérebro TikTok”, o argumento de Carr fez surgir uma avalanche de alegações contra e a favor. Cientificamente, existe um consenso de que mídias podem reestruturar certos aspectos do nosso cérebro, mas é difícil mapear todos os efeitos, inclusive os benéficos.
É preciso levar em conta que os próprios pesquisadores também são reconfigurados pela produção massiva de dados. Um estudo de 2008, intitulado “Comportamento informacional do pesquisador do futuro” e conduzido por cientistas da University College London, sugeriu que alunos e pesquisadores se dedicariam cada vez mais a coletar dados, folhear e escanear livros do que propriamente a ler com profundidade o tema de uma investigação.
Outra pesquisa de 2008 monitorou o cérebro de dois grupos de pessoas de 55 a 78 anos. Um deles lia livros, enquanto o outro pesquisava na internet. Os dois conjuntos de cobaias usaram regiões cerebrais relacionadas a atenção, linguagem e memória durante ambas as atividades, mas apenas os que utilizaram a internet também acionaram neurônios relacionados à tomada de decisões.
Isso quer dizer que usar a internet exige mais atividade cerebral do que ler um livro, mas os cientistas da Universidade da Califórnia em Los Angeles não conseguiram concluir com certeza se isso era realmente benéfico para nossa massa encefálica. A dúvida permanece sem resposta até o momento.
Em 2000 e alguma coisa, um adido médico saudita na América do Norte recebe em sua casa um envelope lacrado em que estava escrito apenas Happy Anniversary. Em busca de diversão para relaxar e com poucas opções na televisão a cabo e no estoque pessoal de mídia, ele resolve abrir o pacote e inserir a mídia no dispositivo correspondente.
O que ocorreu a seguir foi assustador: enquanto assistia à mídia, o profissional de saúde esqueceu o próprio jantar, que esfriou, o cansaço que sentia, esqueceu até a necessidade de se entreter — ele assistiu sem parar, em um loop interminável, ao pequeno filme contido na mídia, provavelmente até morrer de inanição.
Posteriormente, a mulher do adido entra na sala, começa a assistir ao filme e também é praticamente hipnotizada por ele, pouco depois de perceber que o marido urinara na calça. Na tarde seguinte, o assistente pessoal do adido vai verificar por que o superior dele não responde às mensagens e visita a casa, juntamente com dois seguranças da embaixada e uma dupla de curiosos que entregavam panfletos na rua. Todo esse grupo fica igualmente paralisado diante da tela, que ainda reproduzia interminavelmente o filme.
O filme em questão se chama Infinite Jest (Piada Infinita, em tradução livre), porém é mais conhecido como O Entretenimento (em sua quinta versão), por presumivelmente lançar seus espectadores em um estado de relaxamento tão grande que eles não conseguem mais parar de assistir a ele.
Oficialmente, a produção é descrita como dotada de “experimentos radicais na perspectiva e contexto ópticos dos espectadores”. Em um depoimento a agentes de segurança, Joelle, a atriz que participou do filme, afirma que o diretor [James O. Incandenza] usa uma série de técnicas visuais para colocar o espectador na posição de um bebê em momentos próximos do nascimento, onde o amor da mãe é a única coisa que importa. Mas o filme transforma Joelle em uma “versão materna da Morte”.
Toda essa trama é descrita pelo autor norte-americano David Foster Wallace em Graça Infinita (1996), um romance gigantesco que traça não apenas um panorama assustador do Ocidente e sua relação com a diversão, mas também o conecta com a morte.
Diferentemente de Laranja Mecânica, baseado no livro homônimo publicado em 1962, O Entretenimento não é apenas um veículo de dominação usado por autoridades para controlar habitantes rebeldes, mas sim um propagador da morte e do vício, como um vírus que se espalha sem controle nem freio, de forma tão assustadora quanto qualquer pandemia.
LEIA AS OUTRAS PARTES DESTA REPORTAGEM:
• Algoritmos sonham com atentados terroristas? Saiba como lei de 1996 protege as big techs
• O que é humano e o que é inteligência artificial? Vídeos tóxicos e fake news seguem sem lei própria
noticia por : R7.com