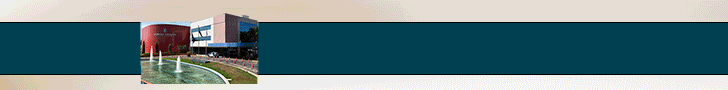Uma família vive tranquila numa casa com piscina e jardim. As crianças correm para lá e para cá nos dias de sol, o pai beija satisfeito a mulher antes de sair para trabalhar, e o cachorro perambula cheirando as flores, que desabrocham sempre coloridas. A poucos metros dali, se desenrola um extermínio em massa.
É lá que o homem bate ponto todos os dias para garantir o conforto da vida campestre à família. Ele é Rudolf Höss, que comandou o campo nazista de Auschwitz, no sul da Polônia, símbolo do genocídio de judeus num dos períodos mais obscuros da humanidade.
Jonathan Glazer concorre ao Oscar de melhor diretor com “Zona de Interesse” que, mesmo sendo um filme sobre o Holocausto, não dá nem um minuto sequer de tela para os crimes cometidos dentro do campo de concentração.
Diferente dos últimos filmes de guerra celebrados pela Academia, como “1917“, de Sam Mendes, “Nada de Novo no Front“, de Edward Berger, ou “O Filho de Saul”, de László Nemes —esse todo dentro de Auschwitz—, não há representações sórdidas de violência ou miséria.
Com a filmagem a distância e em planos abertos, quase como se a câmera fosse uma espiã, Glazer mostra o cotidiano desconfortavelmente calmo da família Höss. São acontecimentos pontuais que denunciam o que está acontecendo –como quando Hedwig, a mulher de Rudolf, recebe uma sacola cheia de roupas das prisioneiras e prova casualmente um casaco de pele para decidir se ficará com ele.
Apesar de o imóvel onde a família morou ainda existir —é uma propriedade privada desde o fim da guerra— Glazer optou por reconstruir o cenário ao lado de Auschwitz, hoje um museu em memória das vítimas do Holocausto. Dentro da casa, onde acontece a maior parte do filme, as câmeras raramente eram desligadas.
“Ninguém sabia quais detalhes elas capturariam” diz a atriz Sandra Hüller, que vive Hedwig. “A vigilância foi intimidadora, parecia um julgamento de caráter. Um julgamento por ser alemã.” Segundo ela, ficar tanto tempo perto de Auschwitz foi mais trabalhoso do que atuar.
Diferentemente de Hüller, que já se recusou fazer filmes sobre o tema antes, o ator alemão Christian Friedel, que dá vida a Rudolf, já trabalhou algumas vezes em longas sobre a Segunda Guerra. Em “Closed Season”, de Franziska Schlotterer, ele era um judeu refugiado em uma fazenda na floresta, e em “13 Minutos”, de Oliver Hirschbiegel, o ativista Georg Elser, que tentou matar Adolf Hitler em 1939.
Dessa vez, porém, ele está do lado obscuro da força. “Para mim é importante dar à pessoa ruim um rosto humano. Você o vê [Rudolf Höss] em momentos banais e pensa que poderia ser você. De certo modo é um filme sobre nós, porque há escuridão em todos”, diz o ator.
A representação do Holocausto no cinema é conflituosa porque provoca os limites da moralidade ao transformar em arte –e entretenimento— acontecimentos históricos trágicos, como a morte em massa de pessoas por um regime autoritário.
Na década de 1970, a minissérie “Holocausto”, transmitida na televisão americana, tentou pôr a violência extrema em imagens. Protagonizada pela jovem Meryl Streep, a série mostrava cenas artificiais dentro dos campos de concentração, e críticos apontaram que a produção era ultrajante por usar a catástrofe humana como catalisador de drama no enredo.
Em 1993, “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg, emocionou milhares de pessoas pelo mundo com a história de Oskar Schindler, empresário filiado ao partido nazista que usou sua boa posição para salvar judeus dos campos de extermínio, empregando as vítimas em suas fábricas.
Se por um lado a produção de grandeza hollywoodiana tem seu mérito por não dar as costas ao assunto, por outro ela tende a simplificar os acontecimentos. Os algozes são retratados sempre com distanciamento, por exemplo, quase como se o nazismo se tratasse apenas de um desvio de caráter e não fosse uma ideologia política.
“A vítima é, por motivos óbvios, a perspectiva representada, geralmente com histórias de triunfo do espírito humano ou de perdas trágicas”, diz o produtor Jim Wilson. Desde o início das filmagens, o objetivo era provocar o espectador a se identificar com as atividades cotidianas da família.
O mesmo debate ronda os filmes posteriores sobre o Holocausto, como “A Vida É Bela”, de Roberto Benigni, ou “O Pianista”, de Roman Polanski. “Auschwitz não pode ser explicado, muito menos visualizado”, disse Glazer ao The New York Times, lembrando seu desinteresse em mostrar os horrores do campo. “O cinema está em desacordo com a atrocidade. Assim que você liga uma câmera, ilumina, você está glamorizando.”
A filósofa britânica Gillian Rose já defendia que a construção da memória do Holocausto como um mal insondável era uma forma de negar a nossa própria capacidade de barbárie. A realidade, ela afirmava, era que o nazismo era humano. E é isso que “Zona de Interesse” propõe, provocando quem assiste a questionar se poderia ser conivente com a morte de milhares de pessoas.
Os Höss não são monstros, mas pessoas comuns, até demais. Hedwig lava as roupas dos filhos, discute com o marido, fala à mãe sobre as ervas que planta. “É como colocar um espelho diante de nossa sociedade”, diz Ewa Puszczynska, a outra produtora. “Qual a linha que não podemos cruzar para ser como eles? Quais são as violências que hoje escolhemos ignorar?”
No tribunal de Nuremberg, Rudolf Höss disse que sua mulher sabia o que ele e seus colegas faziam no campo. Segundo ele, todos os que moravam no entorno sabiam o que acontecia devido ao cheiro dos crematórios. No filme, a família fecha as janelas e abaixa as cortinas para evitar o horror a qualquer custo.
noticia por : UOL