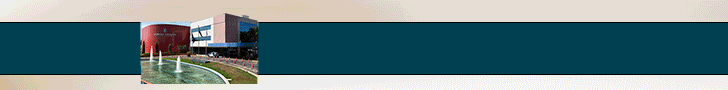Os poemas do livro “Ninguém Quis Ver”, de Bruna Mitrano, que nasceu e vive na periferia do Rio de Janeiro, tocam em diversas formas de apagamento: de gênero, da neurodivergência, da exclusão social, da violência doméstica, das muitas violações normalizadas no cotidiano.
Quanto mais os textos falam de experiências reais e subjetivas, mais dão voz às contradições históricas, coletivas, em que vivem a maioria das pessoas no país, marcadas pela desigualdade extrema.
Se em sua obra de estreia, “Não”, que saiu pela Patuá em 2016, a autora escreve sobre o corpo violentado em uma relação abusiva e a desconstrução do desejo, no livro recém-lançado o arco de brutalidades, assim como o olhar inconformado com o real, ampliam nossa percepção a cerca do interdito, em todas as instâncias da vida.
Em um dos poemas, “A vida é assim”, a autora se apropria de uma reportagem de telejornal sobre uma mulher velha e pobre que cozinha sopa de papel para os filhos e netos.
Diante da pergunta inacreditável do repórter —”por que a senhora está cozinhando papel?”—, o nó na garganta midiático, encenado, que a reportagem busca causar na audiência se adensa na ausência de qualquer constrangimento ou comoção para nomear a fome, sem retoques de edição, na resposta da entrevistada.
O corte brusco, antilírico, para a primeira pessoa, na verdade nos constrange como aquele talho fino, doloroso e sutil da folha de papel A4, apesar de nossa consciência crítica para os aparatos da poesia: “o que foi garota/ não pode acabar assim/ não é um filme é a vida real”.
Tudo a ler
Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes.
A realidade que se desnuda e descoloniza no texto não é apenas revolta e denúncia, mesmo que se legitime como tal, mas está imersa na linguagem sem o artifício figurativo, como na imagem do “homem sem cabeça/ não um ser mitológico/ nem um desses zumbis de seriado/ um homem que sangra/ decapitado na vila kennedy/ um homem de peito aberto”.
O mesmo desnudamento que nos conduz à intimidade da vivência neurodivergente: “depois de uma convulsão/ é difícil saber/ onde você está// mas não há dúvida/ de que qualquer caminho/ te levará para dentro”.
Nesse trajeto para o interior da experiência, os liames entre corpo e palavra, rua e casa, epilepsia e ternura, dor e desejo, comunidade e necropolítica se intensificam e se iluminam para além das muitas mediações simbólicas. O poema fez do seu corpo “seu território em guerra”, escreve Bruna, assim como o abuso tóxico e machista recorrente nele retratado.
Outra ruptura na batalha entre o real e a representação pode ser expressa literariamente pelo silêncio diante do estupro, do violador armado, da ausência do choro por anos, do comentário maldoso das pessoas, da falta de empatia e de protesto, da impotência ao constatar que “nenhuma voz sustenta/ ou abate/ o corpo violado”.
Arrancar da indiferença social, da frieza estatística, da soberba crítica, do moralismo tosco patriarcal, esse grito de indignação é também —e fundamentalmente— função da literatura e da arte enquanto lugares de fala de corpos em luta e afirmação de identidades.
A figura da avó emerge nesse cenário em ruínas para religar a voz e o corpo aos sentidos de pertencimento, aprendizado e resistência. “Minha avó roubava leite/ pra dar aos filhos/ porque seus peitos empedraram/ porque a sequidão é a sina”.
A secura real do peito também faminto explode na cara do leitor como uma pretensa metáfora de uma privação histórica e politicamente arquitetada. A sina tem como símile a exclusão, que se entranha no cotidiano de “toalhas escaldadas” que “trazem a avó/ reerguendo a casa”, depois da chuvarada devastadora, da lama empurrada com rodo e dos móveis desempilhados.
A escrita de Bruna Mitrano seria facilmente associada ou confundida, numa interpretação maneirista, com o lindo verso que fala “de desenhar com uma lasca de tijolo/ sóis na calçada”, mas não carece. O que ela escreve vai direto ao ponto, sem piruetas metafóricas.
noticia por : UOL