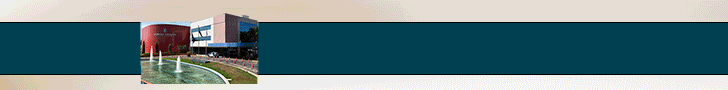Em seu livro de estreia, Odorico Leal, reconhecido tradutor e pesquisador piauiense, faz um conjunto de cinco narrativas tendo o Éden como temática e fio condutor.
As delícias de um festim mundano estão presentes na carne humana devorada em “Paraíso Canibal”, o poderoso abre-alas do volume. Em dicção que por vezes remete aos textos de antigos cronistas e viajantes, o conto-quase-novela traz em primeira pessoa a história de um indígena com olhos de tupinambá que atravessa séculos, geografias e profissões sem abrir mão do “desejo de mordidas”.
Enfeitiçado e tornado imortal por um pajé, mastiga sem culpa amigos e inimigos: “É que a mim sempre apeteceu o sabor mesmo da humana carne, e nunca estive interessado em pastar virtudes, só e somente músculos tenros, tendões indolentes, entre os quais se chega fácil, como por entre cortina de miçangas, ao tutano dos ossos”.
Leal, que é convidado da Feira do Livro em São Paulo, se coloca diante de uma discussão sensível hoje, a dos sistemáticos atos de apropriação cultural na cultura brasileira.
No momento em que artistas como Denilson Baniwa recusam o sequestro histórico do saber dos povos originários, servindo com pimenta a cabeça de Mário de Andrade em uma bandeja de palha —como visto na exposição e na tela “Reantropofagia”, de 2019—, poderia falhar o gesto de ocupar o lugar de enunciação reivindicado por artistas indígenas.
Filiando-se a uma certa tradição literária modernista, a mesma que bebeu da fonte dos complexos rituais antropofágicos de povos indígenas brasileiros, o escritor é bem-sucedido na empreitada: ao reler esse legado na chave da paródia, encara tal herança artística pelo riso.
No imenso jardim-Brasil de devorados e devoradores, seu protagonista inominado mastiga línguas e corpos metabolizando mais uma vez a diferença. O vigor dessa abertura sacia nossa fome.
Pela presença do estranho e do insólito, “Paraíso Canibal” forma uma espécie de duo com “Os Gatos”, em que uma dupla felina divide o apartamento com Andressa, arquiteta falida às vésperas do despejo.
O desfecho atinge o leitor com o nocaute definitivo apregoado pelo mestre Julio Cortázar, concluindo com força uma história em que o elemento paradisíaco aparece no formato de uma poltrona de couro banhada de sol, refúgio de prazer contraposto à medonha realidade brasileira nove andares abaixo.
O antídoto à tentação de “nostalgizar em excesso” (expressão de um dos narradores) emerge na coletânea pela via do humor. Por vezes, a comicidade surge na captura do fato inusitado, em tom de burla; em outros trechos, na capacidade de cada personagem ver a si mesmo pelas lentes do ridículo.
São momentos em que a feiura, a desilusão e o fracasso não estão apenas naqueles que narram suas vidas, mas também em tudo o que há de comezinho e risível em nós.
Como no divertido “O Jardineiro”, em que o protagonista, vagando de clique em clique, relata o naufrágio sentimental de um músico frustrado e a namorada editora, “acumuladora social com dezenas de grupos de amigas”. Nessas passagens a verve de Leal lembra o talento de Sérgio Sant’Anna ao transitar pela intimidade dos amores miúdos (com direito a ironia).
Tudo a ler
Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias
O Éden particular pode ser a tentativa de regar as plantas sem viço da amada. Murchas as folhas, é flagrante o desânimo do personagem diante do cenário de confronto político na avenida Paulista —em meio a drones, bandeiras de plástico e pulseiras verde-amarelas, medem forças os chamados “Getulinhos” e os patriotas do “Secto do Riso da Morte”.
A polarização também se faz presente em “A Febre Dioneia”, no duelo de palavras entre uma jornalista e o entrevistado Eduardo Aguardi, engenhosa figuração do artista ressentido; mais um a odiar o país, lugar “impreciso, infernal e safado”.
O domínio do ritmo narrativo e a capacidade de elaborar imagens que persistem após a leitura conferem estilo próprio a esse viveiro ficcional. Canibalizando vozes alheias, Leal formula seu texto com personalidade. E sem nostalgia.
noticia por : UOL