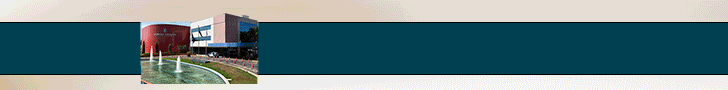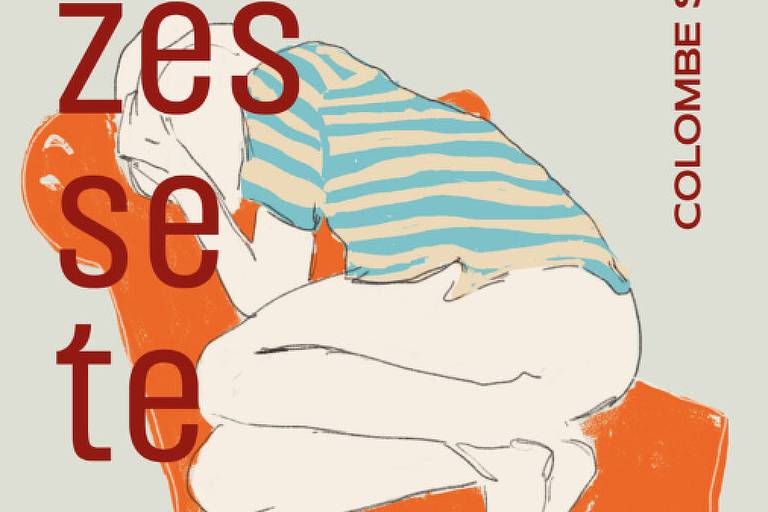Em 1984, a jornalista e escritora francesa Colombe Schneck, então com 17 anos, vivia livremente sua sexualidade e seus anseios intelectuais. Sob preceitos de um feminismo que ela acreditava ser um direito adquirido para todas as mulheres (“a luta de minha mãe me parece concluída”), a autora acreditava ser a garota mais feliz do mundo “sentada entre meus pais no grande sofá de couro confortável e macio”. Foi quando engravidou de um namorado e fez um aborto.
Colunas e Blogs
Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes.
Seus pais, progressistas, a auxiliaram de forma muito prática, mas jamais voltaram a tocar no assunto. Schneck, que a partir daquele dia sentiu que tinha entrado sem querer no mundo dos adultos, nunca falou sobre o aborto nem com amigos próximos, mantendo por décadas uma dolorosa conversa mental apenas com o filho que nunca existiu.
Em “Dezessete“, publicado em 2015 na França (é seu primeiro livro a ser lançado no Brasil), Schneck resolveu, como tantos autores autobiográficos, escancarar e organizar suas tormentas e seus não ditos, claramente como uma via de cura.
A partir do ponto de vista de escritora reconhecida e mãe dedicada, narra a experiência desse aborto —e o importante impacto psíquico que isso representou durante toda a sua vida— como se a estivesse contando para a escritora de autoficção Annie Ernaux, ganhadora do Nobel de Literatura em 2022 e autora do celebrado “O Acontecimento”, que trata de um aborto clandestino. Ernaux disse em uma entrevista que, na época, procurou avidamente em bibliotecas livros nos quais alguma heroína desejasse abortar. Não encontrou nenhum.
Colombe Schneck, que antes da gravidez indesejada só se angustiava tentando decifrar sua mãe depressiva, solitária e “sem prazeres”, de repente se sente “traída pelo próprio corpo, que lhe roubou a liberdade” e a expulsou de sua rotina idílica de adolescente: “Entro num mundo distinto, um mundo coercitivo no qual não se trata mais de fazer dever de casa, ver filmes, convidar ou não certas amigas. Trata-se de vida e de morte, da minha vida, do meu futuro, da minha liberdade, daquilo que acontece no meu corpo e que pode ser a vida ou nada e pela qual sou responsável”.
Interessante pensar que uma jovem feminista, branca, de família abastada, com pais intelectualizados, na Paris pós-Lei Veil (que legalizou o aborto), sofre tanto com a interrupção de uma gravidez indesejada a ponto de se calar (ou sofre justamente porque se calou): “Carrego uma espécie de mancha em mim, feita de sangue, de excrementos, dessa terra que jogamos sobre os caixões”.
Ao longo do livro, que como todo relato pessoal funciona ao próprio autor como uma forma de assentar e estruturar o passado, Schneck parece concluir que o maior de seus traumas foi jamais ter podido conversar sobre essa dor (ou qualquer dor) com sua mãe. “Minha mãe não diz nada a sua filha de dezessete anos que abortou”, e assim trata o fato como “algo banal, fácil e esquecido logo após de se realizar”.
Depois daquele dia, houve “outros garotos, a morte do meu pai, a solidão, o casamento, a morte de minha mãe, dois filhos, a solidão de novo, outros homens”, mas durante todo esse tempo a autora diz que nunca parou de pensar e conversar com aquele “filho que não tive e que não tem nome”. O que lhe diria? “Talvez sua presença não tivesse me impedido tanto assim de viver.”
Sincera, pungente e profunda, como uma obra autobiográfica marcante deve ser, esse é um livro sobre liberdade e feminismo, mas também sobre a dor de nossas escolhas. Sobre não silenciar e enfrentar a angústia de ser um ser desejante. Porque a vida é sempre mais complexa que uma hashtag progressista.
“Não me sinto culpada por ter te negligenciado, fico apenas triste quando penso em você.”
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar cinco acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.
noticia por : UOL