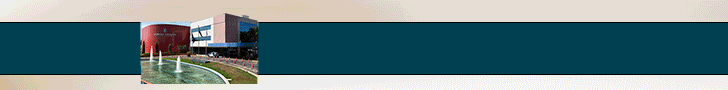Apenas 14% do total de investimentos em finanças climáticas entre 2021 e 2022 foram para mercados emergentes, sem considerar a China, segundo levantamento do grupo de pesquisa Climate Policy Initiative (CPI) publicado no final do ano passado. Neste contexto, bancos de desenvolvimento atuam como sustentáculo desses países na corrida pela transição energética.
Com riscos maiores a investidores, um plano ambiental ainda incipiente, esfera regulatória atrasada e pequeno espaço fiscal para subsídios, o Brasil entra nesse bolo. No país, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) é a instituição que mais financiou projetos de energia renovável no mundo desde 2004, de acordo com a BNEF, organização de pesquisas da Bloomberg.
Na quarta-feira (13), o banco aprovou o novo Fundo Clima, que terá até R$ 10,4 bilhões para financiar medidas de combate às mudanças climáticas. Parte desse recurso vem da captação de US$ 2 bilhões no exterior com títulos soberanos sustentáveis lançados pelo Ministério da Fazenda.
Esse tipo de instituição foi responsável por metade dos investimentos climáticos em todo o mundo entre 2021 e 2022, segundo o CPI. O levantamento aponta que 67% dos investimentos climáticos de instituições financeiras de desenvolvimento nacionais e bilaterais foram para mercados emergentes, com quase todo esse valor permanecendo no país de origem ou sendo destinado a outros emergentes. Na mesma linha, 45% dos investimentos dos bancos multilaterais de desenvolvimento foram para países emergentes.
Ainda assim, o valor não é suficiente.
No final de fevereiro, em reunião paralela ao G20 com chefes de bancos multilaterais, em São Paulo, o presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Ilan Goldfajn, destacou que, se todo o financiamento multilateral disponível na América Latina e Caribe fosse destinado a ações climáticas, o montante cobriria apenas 3% do investimento necessário.
Esses bancos têm buscado formas de direcionar mais recursos para países emergentes ou subdesenvolvidos.
“Há muito capital institucional nas economias ocidentais que, por razões regulatórias, não podem ser investidos em economias emergentes devido a restrições de risco. Não são decisões de organizações individuais, essas são regulamentações impostas, presumivelmente para proteger poupadores ou pensionistas. Mas precisamos encontrar maneiras de desbloquear isso”, diz Erik Berglof, economista-chefe do AIIB, banco multilateral de desenvolvimento comandado pela China e do qual o Brasil é membro.
Vários países da OCDE, o clube dos países ricos, por exemplo, impedem que seus fundos de pensão invistam em títulos de nações que não fazem parte da organização.
“Pode haver um papel para os bancos multilaterais de desenvolvimento em ajudar a gerenciar esse risco. Uma coisa que eles podem fazer muito bem é coinvestir, por exemplo, com empresas privadas; isso fornece proteção e reduz o risco para as empresas. E acho que esse é um papel muito importante para os bancos desempenharem”, acrescenta.
Em certa parte, o Brasil caminha para isso. No final de fevereiro, o governo federal anunciou que o BID vai contratar R$ 17 bilhões de instrumentos de proteção cambial no exterior e repassá-los, por meio do Banco Central, para instituições financeiras no Brasil. Por ter baixo risco de crédito, o banco consegue obter essa proteção com custo menor do que seria obtido por um banco brasileiro.
A posição do país no mundo faz diferença, diz Luciana Costa, diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES. De acordo com ela, a localização “determina um custo maior de capital e essa é uma desvantagem estrutural que nós temos neste momento de transição energética”. O acordo com o BID “pode ajudar, mas não é uma bala de prata”, afirma. “São as nossas vantagens comparativas combinadas a um arcabouço regulatório legal e alternativas de hedge, tudo isso junto.”
São muitas as vantagens comparativas do Brasil: sol, vento e água abundantes, maior floresta tropical do mundo, uma das maiores biodiversidades do planeta, grandes reservas de minerais críticos, um agronegócio forte e um sistema elétrico interligado, robusto e -o mais importante- limpo.
Mas, ainda assim, para quem lida diariamente com investimentos na área, o Brasil precisa de foco se quiser competir com países desenvolvidos na corrida pela transição energética. Isso porque a realidade desses países é bem diferente.
A BNEF calculou que dos dez países que mais receberam investimentos em transição energética em 2023, apenas dois são emergentes, sem contar a China: Brasil e Índia. Juntos, eles não representam nem 5% do investimento total. A pesquisa considera investimentos privados e públicos.
Do pacote de US$ 1,7 trilhão (R$ 8,5 tri) aprovado pelos Estados Unidos em 2022 para controlar a inflação, estima-se que US$ 370 bilhões vão para projetos ligados à segurança energética e à energia limpa. Quase metade sairá de incentivos do governo, como isenção de 10% dos impostos para a produção de tecnologia solar ou eólica no país e crédito de US$ 7.500 para a compra de carros elétricos e de US$ 3 por quilo de hidrogênio verde feito em terras americanas.
Na mesma linha, ao menos um terço do pacote de 1,8 trilhão de euros (R$ 9,7 trilhões) aprovado pela União Europeia em 2020 vai para projetos ligados à mudança climática. Isso sem contar as regulações aprovadas pelo bloco que sofisticam o mercado regulado de carbono, desenvolvem uma taxonomia verde e controlam as mercadorias que entram no continente a partir de seus impactos ambientais.
“Como temos restrição fiscal, precisaremos ser mais eficientes e vamos ter que achar alguma forma de ser muito cirúrgicos nos nossos incentivos. […] Teremos que saber as batalhas que a gente vai comprar e as apostas que a gente vai fazer como sociedade; a gente não vai poder apostar em tudo”, afirma Costa.
Ela cita, por exemplo, a produção de fertilizantes verdes e de SAF (sigla em inglês para combustíveis sustentável de aviação). Esse último ainda é incipiente no mundo, mas o Brasil, se tivesse ambiente regulatório e incentivos fiscais adequados, poderia liderar o mercado global, já que a matéria-prima desses combustível vem de commodities conhecidas dos brasileiros, como etanol, óleos vegetais e gordura animal.
“Lá na frente também teremos que focar em hidrogênio verde e fertilizante verde porque a gente tem o agro inteiro para descarbonizar”, diz Costa. “Se a gente combinar nossas vantagens comparativas e desenhar esse arcabouço regulatório dessa economia verde de forma bem desenhada, uma indústria intensiva em energia vai se estabelecer no Brasil em vez da Europa.”
A BNEF calcula que o Brasil tem potencial para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo até 2030, podendo custar menos ainda que o hidrogênio cinza, aquele produzido a partir de fontes fósseis.
Mas para isso o país precisa ajustar seu ambiente regulatório. Ainda estão no Congresso leis que criam créditos voltados à transição energética e incentivos para a produção de biodiesel, de biometano e de SAF. Outras, que regulam a produção de hidrogênio verde no país, de energia eólica em alto mar e de um mercado de carbono, não têm previsão nem de serem votadas. São temas essenciais para o país e que, na visão desses especialistas, já deveriam ter sido aprovados a tempo.
“Ter o ambiente político correto e metas e objetivos é extremamente importante. O dinheiro flui para onde há clareza real em torno dos objetivos e onde há bom suporte político”, diz Jon Moore, CEO da BNEF. “Se trata de escolher o que é econômico e garantir que isso seja conhecido, compreendido e apoiado. Talvez seja necessário um investimento inicial para colocar os primeiros projetos em funcionamento, mas não precisa ser um grande número para acelerar dramaticamente.”
Esses especialistas analisam ser uma corrida difícil. E nela é improvável que os países emergentes alcancem o primeiro lugar. Mas o importante é não ficar no final da fila.
noticia por : R7.com