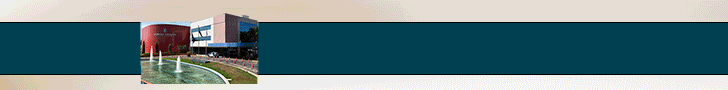O historiador da ciência Michael Shermer teve seu primeiro indício de que as coisas estavam mudando na revista Scientific American no final de 2018. O autor vinha escrevendo sua coluna “Cético” para a revista desde 2001. Seus ensaios mensais, voltados para um público de cientistas e leigos, defendiam o método científico, a necessidade de um debate baseado em evidências e exploravam como os vieses cognitivos e ideológicos podem descarrilar a busca pela verdade. Os modelos de Shermer incluíam dois pensadores do século XX que, como ele, gostavam de explicar a ciência ao público: Carl Sagan, o efusivo astrônomo e comentarista de TV; e o biólogo evolutivo Stephen Jay Gould, que escreveu uma popular coluna mensal na revista Natural History por 25 anos. Shermer esperava algum dia atingir o recorde de Gould de produzir 300 colunas consecutivas. Esse objetivo lhe escaparia.
Em publicação contínua desde 1845, a Scientific American é a principal revista popular de ciência dos Estados Unidos. Autores publicados em suas páginas incluíram Albert Einstein, Francis Crick, Jonas Salk e J. Robert Oppenheimer — cerca de 200 laureados do Prêmio Nobel no total. A SciAm, como muitos leitores a chamam, há muito encorajava seus autores a desafiarem pontos de vista estabelecidos. Por exemplo, em meados do século XX, a revista publicou uma série de artigos em defesa da então radical ideia das placas tectônicas. No século XXI, no entanto, a imprensa científica americana, incluindo a Scientific American, começou a entrar em conformidade com as crenças progressistas. De repente, certas ortodoxias — especialmente sobre raça, gênero ou clima — não podiam ser questionadas.
“Comecei a ver os sinais perto do fim da minha jornada lá”, disse Shermer. “Percebi que estava sendo lentamente afastado de certos tópicos.” Em um mês, ele enviou uma coluna sobre a “falácia das exceções excluídas”, um erro lógico comum em que as pessoas percebem um padrão de ligações causais entre fatores, mas ignoram contraexemplos que não se encaixam no padrão. No artigo, Shermer desmascarou o mito da “maldição dos filmes de terror”, que afirma que o azar tende a assombrar atores que aparecem em filmes assustadores. (Os atores na maioria dos filmes de terror sobrevivem ilesos, ele observou, enquanto o azar às vezes atinge o elenco de filmes não assustadores também.) Shermer também queria incluir um exemplo sério: a crença comum de que crianças abusadas sexualmente crescem para se tornarem abusadoras por sua vez. Ele citou evidências de que “a maioria das crianças abusadas sexualmente não cresce para abusar de seus próprios filhos” e que “a maioria dos pais abusivos não foram abusados quando crianças.” E observou como esse estereótipo poderia ser prejudicial aos sobreviventes de abuso; a clareza estatística é ainda mais vital em casos tão delicados, argumentou. Mas a editora-chefe da revista não aceitou. Para a editora, o esforço de Shermer para corrigir um equívoco comum poderia ser interpretado como uma minimização da gravidade do abuso. Até mesmo abordar o tema poderia ser muito traumático para as vítimas.
No mês seguinte, Shermer enviou uma coluna discutindo formas como a discriminação contra minorias raciais, gays e outros grupos diminuiu (enquanto reconhecia a necessidade de progresso contínuo). Aqui, Shermer se deparou com o mesmo obstáculo que Steven Pinker, autor de “Os anjos bons da nossa natureza” (Cia das Letras, 2017), e outros otimistas científicos enfrentaram. Para os progressistas, admitir que qualquer problema — racismo, poluição, pobreza — melhorou significa ceder em sua superioridade moral retórica. “Eles estão comprometidos com a ideia de que não há progresso cumulativo”, diz Shermer, e resistem furiosamente aos esforços para rastrear a verdadeira prevalência, ou a “taxa base”, de um problema. Dizer que “tudo está maravilhoso e todos devem parar de reclamar realmente não funciona”, foi a objeção da editora.
Shermer cavou a própria cova ainda mais fundo ao citar a membro do Manhattan Institute, Heather Mac Donald e os autores de The Coddling of the American Mind (“A mente americana mimada”, em trad. livre, 2014, sem edição no Brasil), Greg Lukianoff e Jonathan Haidt, que argumentam que o surgimento da política de grupos de identidade mina o objetivo de direitos iguais para todos. Shermer escreveu que a teoria interseccional, que agrupa indivíduos em grupos de identidade agregados com base em raça, sexo e outras características imutáveis, “é uma inversão perversa” do sonho de uma sociedade cega à cor de Martin Luther King. Para os editores de Shermer, aparentemente, essa foi a gota d’água. A coluna foi cancelada e o contrato de Shermer, rescindido. Aparentemente, a SciAm não tinha mais amplitude ideológica para publicar um pensador tão heterodoxo.
O rompimento de 175 anos de neutralidade
O jornalismo americano nunca foi muito bom na cobertura científica. Na verdade, a imprensa dominante geralmente é uma companhia fácil quando se trata de pautas sobre medicina alternativa, avistamentos de OVNIs, psicologia popular ou várias formas de ciência duvidosa. Por muitos anos, esse foi um dos fatores que tornaram a reportagem rigorosa da Scientific American tão vital. The New York Times, National Geographic, Smithsonian e algumas outras publicações dominantes também produziram coberturas científicas de primeira linha. Periódicos acadêmicos revistos por pares voltados para especialistas atingiam um padrão ainda mais alto. Mas, na última década ou mais, a qualidade do jornalismo científico — mesmo nas principais publicações — tem declinado de uma forma nova e alarmante. Os fracassos jornalísticos de hoje não se devem apenas à reportagem preguiçosa ou a uma fraqueza pelo sensacionalismo, mas a uma visão de mundo abrangente e cada vez mais ubíqua.
É difícil dar a essa ideologia abrangente um único nome. Ela tem suas raízes tanto nas críticas radicais ao capitalismo dos anos 1960 quanto no movimento pós-moderno do final do século XX que procurava “problematizar” noções de verdade objetiva. A teoria crítica da raça, que vê o racismo estrutural como o grande princípio organizador da sociedade, é um ramo disso. Estudos queer, que buscam “desconstruir” normas tradicionais de família, sexo e gênero, são outro. Críticos dessa visão de mundo às vezes a chamam de “identitarismo”; os apoiadores preferem o termo “interseccionalidade”. Em ambientes empresariais, a doutrina vive sob o rótulo de diversidade, equidade e inclusão, ou DEI: um conjunto de políticas que soam inofensivas — mas, na prática, são tudo menos isso.
Essa doutrina vê os valores ocidentais, e os Estados Unidos em particular, como forças especialmente perniciosas na história mundial. E, como exemplificado pelos discursos anticapitalistas da ativista climática Greta Thunberg, o movimento apresenta um profundo ecopessimismo sustentado apenas pela distante esperança de uma utopia verde coletivista.
A visão de mundo DEI tomou conta das instituições lentamente, não de uma vez só. Muitos à esquerda, especialmente jornalistas, viram a eleição de Donald Trump em 2016 como uma ameaça existencial que necessitava abandonar as salvaguardas de equilíbrio e objetividade. Em seguida, no início de 2020, os lockdowns da Covid colocaram a sociedade americana sob uma pressão insuportável. Finalmente, em maio de 2020, a morte de George Floyd sob o joelho de um policial de Minneapolis forneceu a faísca. Os manifestantes explodiram nas ruas. Cada instituição, de cafeterias a empresas da lista Fortune 500, sentiu-se compelida a demonstrar seu compromisso com o novo ethos “antirracista”. Em um ambiente já polarizado, a maioria dos veículos de mídia avançou ainda mais para a esquerda. Centristas — incluindo o editor de opinião do New York Times, James Bennet, e o jornalista científico do mesmo veículo Donald G. McNeil Jr. — foram forçados a sair, enquanto vozes progressistas radicais foram elevadas.
Esse foi o clima nacional quando Laura Helmuth assumiu o comando da Scientific American em abril de 2020. Helmuth tinha um currículo impressionante: um doutorado em neurociência cognitiva pela Universidade da Califórnia em Berkeley e uma série de trabalhos editoriais impressionantes em veículos como Science, National Geographic e Washington Post. Assumir uma grande operação de mídia impressa e online durante as primeiras semanas da pandemia de Covid certamente não foi fácil. Por outro lado, esses tempos difíceis representaram uma oportunidade única na vida para uma editora de ciências ambiciosa. Raramente na história da revista tantos americanos precisaram urgentemente de reportagens científicas sensatas e oportunas: de onde veio a Covid? Como é transmitida? O fechamento de escolas e empresas foi cientificamente justificado? O que sabemos sobre as vacinas?
A Scientific American realmente examinou a Covid sob vários ângulos, incluindo uma reportagem de capa informativa de julho de 2020 que diagramava como o vírus SARS-CoV-2 “se infiltra nas células humanas”. No entanto, a publicação não avançou muito em novas descobertas na cobertura da pandemia. Por exemplo, quando se tratava de avaliar as crescentes evidências de que a Covid poderia ter escapado de um laboratório, a SciAm foi superada pelas revistas New York e Vanity Fair, publicações mais conhecidas por sua cobertura de política e entretenimento do que de ciência.
Ao mesmo tempo, a SciAm aumentou dramaticamente sua cobertura de justiça social. A revista logo publicaria uma série de artigos com títulos como “A matemática moderna confronta seu passado branco e patriarcal” e “As raízes raciais da luta contra a obesidade”. A morte do biólogo mais aclamado do século XX foi o gancho para “O legado complicado de E. O. Wilson”, uma peça de opinião argumentando que o trabalho de Wilson era “baseado em ideias racistas”, sem citar uma única linha de seu grande cânone publicado. Pelo menos esses artigos tinham alguma conexão com temas científicos. Em 2021, a SciAm publicou um ensaio de opinião, “Por que o termo ‘JEDI’ é problemático para descrever programas que promovem justiça, equidade, diversidade e inclusão”. Os cinco autores do artigo questionaram o esforço de alguns defensores da justiça social para criar um rótulo fofo enquanto expandiam a sigla DEI para incluir “justiça”. Os cavaleiros Jedi dos filmes de Star Wars são “mascotes inadequados para a justiça social”, argumentaram os autores, porque eles são “propensos ao salvacionismo (branco) e abordagens toxicamente masculinas para resolução de conflitos (duelos violentos com sabres de luz fálicos, manipulação psicológica por meio de ‘truques mentais Jedi’, etc.)”. O que tudo isso tinha a ver com ciência era um mistério para qualquer um.
Vários cientistas proeminentes notaram a mudança da SciAm. “A Scientific American está mudando de uma revista de ciência popular para uma revista de justiça social na ciência”, escreveu Jerry Coyne, professor emérito de ecologia e evolução da Universidade de Chicago, em seu popular blog Why Evolution Is True (“Por que a evolução é verdade”, em trad. livre). Ele questionou por que a revista “mudou sua missão de publicar artigos de ciência decentes para panfletos falhos de ideologia”.
“A velha Scientific American que assinei na faculdade era toda dedicada à ciência”, declarou Geoffrey Miller, psicólogo evolutivo da Universidade do Novo México. “Era reportagem factual sobre novas ideias e descobertas de física a psicologia, com um estilo de escrita claro, excelentes ilustrações e sem agenda política óbvia.” Miller diz que notou uma mudança gradual há cerca de 15 anos e depois um “viés político ‘woke’ que se tornou mais flagrante e irracional” nos últimos anos. Os principais periódicos de ciência dos EUA, Nature e Science, e a revista New Scientist do Reino Unido, mudaram de forma semelhante, ele diz. Até a eleição de Trump em 2016, acrescenta, “os editores da Scientific American parecem ter decidido que lutar contra os conservadores era mais importante do que informar sobre ciência”.
O crescente envolvimento da Scientific American na política atraiu atenção nacional no final de 2020, quando a revista, pela primeira vez em seus 175 anos de história, endossou um candidato presidencial. “As evidências e a ciência mostram que Donald Trump prejudicou gravemente os EUA e seu povo”, escreveram os editores. “É por isso que instamos você a votar em Joe Biden.” Em uma troca de e-mails, a editora-chefe da Scientific American, Helmuth, disse que a decisão de endossar Biden foi tomada unanimemente pela equipe da revista. “No geral, a resposta foi muito positiva”, ela disse. Helmuth também contestou a ideia de que se envolver em batalhas políticas representava uma nova direção para a SciAm. “Temos uma longa e orgulhosa história de cobertura dos ângulos sociais e políticos da ciência”, disse ela, observando que a revista “defende o ensino da evolução e não do criacionismo desde que cobrimos o Julgamento do Macaco”. [N. do T.: Caso também conhecido como Julgamento de Scopes, ocorreu em 1925 e envolvia uma lei do estado do Tennessee que criminalizava o ensino da teoria da evolução nas escolas. John Scopes, professor substituto de biologia, violou a lei e foi condenado. O filme Inherit the Wind (1960) conta a história.]
A Scientific American não estava sozinha ao endossar um candidato presidencial em 2020. A Nature também endossou Biden naquele ciclo eleitoral. O New England Journal of Medicine indiretamente fez o mesmo, escrevendo que “nossos líderes atuais demonstraram ser perigosamente incompetentes” e não deveriam “manter seus empregos”. Vinay Prasad, o proeminente oncologista e especialista em saúde pública, recentemente ridicularizou a tendência de endossos em sua newsletter no Substack, perguntando se as revistas científicas vão dizer-lhe em quem votar novamente em 2024. “Eis uma ideia! Chame-a de loucura”, ele escreveu: “por que os cientistas não se concentram na ciência e deixam a política decidir a eleição?” Quando os cientistas se inserem na política, ele acrescentou, “o único resultado é que estamos perdendo nossa credibilidade”.
Mas o que significa “focar na ciência”? Muitos de nós aprendemos o modelo padrão do método científico no ensino médio. Entendemos que a ciência tenta — nem sempre perfeitamente — proteger a busca pela verdade de interferências políticas, dogmas religiosos ou emoções e preconceitos pessoais. Mas esse modelo de ciência tem sido atacado há meio século. O teórico francês Michel Foucault argumentou que a objetividade científica é uma ilusão produzida e moldada pelos “sistemas de poder” da sociedade. Os ativistas identitários de hoje desafiam a legitimidade da ciência em vários aspectos: a predominância de homens brancos em sua história, as atitudes racistas mantidas por alguns de seus pioneiros, sua inferioridade em relação às “formas de saber” indígenas, entre outros. Ironicamente, como Christopher Rufo aponta em seu livro America’s Cultural Revolution (“A revolução cultural dos EUA”, em trad. livre), essa ideologia pós-moderna — que começou como uma crítica às estruturas de poder opressivas — hoje empodera as vozes mais iliberais e repressivas dentro da academia e outras instituições.
Shermer acredita que o novo estilo de jornalismo científico “está sendo definido por essa visão de mundo pós-moderna, a ideia de que todos os fatos são relativos ou determinados culturalmente”. Claro, se os fatos científicos são apenas produtos de um determinado ambiente cultural, ele diz, “então tudo é uma narrativa que tem que refletir algum lado político”. Sem um arcabouço de comum acordo para separar as reivindicações válidas das inválidas — sem ciência, em outras palavras — as pessoas recorrem às suas intuições e preconceitos de grupo, o “viés do meu lado”.
Tradicionalmente, o jornalismo científico era principalmente descritivo — os autores se esforçavam para explicar novas descobertas em um campo específico. O novo estilo de jornalismo científico assume a forma de ativismo — os autores procuram influenciar os leitores em direção a uma opinião politicamente aprovada.
“Ultimamente, os jornalistas têm se comportado mais como ativistas”, diz Shermer, “reunindo evidências a favor de sua própria visão e ignorando qualquer coisa que não ajude seu argumento”. Isso não ocorre apenas no jornalismo científico, claro. Mesmo antes da era Trump, a imprensa dominante promovia histórias que apoiam pontos de vista de esquerda e evitava cuidadosamente temas que poderiam oferecer munição à direita. A maioria dos leitores entende, claro, que pautas sobre política provavelmente serão moldadas pela inclinação ideológica de um veículo de comunicação. Mas a ciência em tese deve ser isolada da influência política. Infelizmente, o novo estilo “woke” de jornalismo científico reformula debates científicos factuais como batalhas ideológicas, com um lado sendo presumido moralmente superior. Sem surpresa, a crise no jornalismo científico é mais óbvia nos campos onde a opinião pública é mais polarizada.
O agravamento do viés na pandemia
A pandemia de Covid foi uma crise não apenas para a saúde pública, mas para a confiança do público em nossas principais instituições. De Anthony Fauci para baixo, as principais autoridades de saúde pública emitiram prescrições de políticas sem base, manipularam fatos e suprimiram perguntas incômodas sobre a origem do vírus. Uma imprensa científica cética e vigorosa poderia ter feito muito para manter esses oficiais honestos — e o público informado. Em vez disso, até mesmo as publicações científicas de elite fizeram mais para proteger o consenso estabelecido. Por exemplo, quando o cientista Jay Bhattacharya de Stanford e outros dois especialistas em saúde pública propuseram uma alternativa aos lockdowns em sua Declaração de Great Barrington, os veículos de mídia se juntaram ao esforço de Fauci para desacreditá-los e silenciá-los.
Richard Ebright, professor de bioquímica na Universidade Rutgers, é um crítico de longa data da pesquisa de ganho de função, que pode tornar os vírus naturalmente ocorrentes mais letais. Desde as primeiras semanas da pandemia, ele suspeitava que o vírus havia vazado do Instituto de Virologia de Wuhan, na China. As evidências cada vez mais sugerem que ele estava correto. Perguntei a Ebright como ele achava que a imprensa havia lidado com o debate sobre o vazamento de laboratório. Ele respondeu:
“Jornalistas científicos na maioria dos principais veículos de notícias e veículos de notícias científicas passaram os últimos quatro anos ofuscando e deturpando fatos sobre a origem da pandemia. Eles fizeram isso para proteger os cientistas, administradores científicos e o campo da ciência — pesquisa de ganho de função em patógenos pandêmicos potenciais — que provavelmente causou a pandemia. Eles fizeram isso em parte porque esses cientistas e administradores científicos são suas fontes, (…) em parte porque acreditam que a confiança pública na ciência seria prejudicada relatando os fatos, e em parte porque a origem da pandemia adquiriu uma valência política partidária após declarações públicas iniciais dos políticos republicanos Tom Cotton, Mike Pompeo e Donald Trump.”
Durante os primeiros dois anos da pandemia, a maioria dos veículos de mídia dominantes mal mencionou o debate sobre o vazamento de laboratório. E quando o fizeram, geralmente atacavam tanto a ideia quanto quem a levava a sério. Em março de 2021, muito tempo depois de surgirem evidências credíveis sugerindo uma origem laboratorial para o vírus, a Scientific American publicou um artigo, “A hipótese do vazamento laboratorial dificultou que os cientistas busquem a verdade”. O artigo comparou a teoria à campanha de desinformação da KGB sobre a origem do HIV/AIDS e culpou os defensores da ideia do vazamento laboratorial por criar um clima venenoso em torno da questão: “a proliferação de retórica xenofóbica foi ligada a um aumento marcante nos crimes de ódio contra asiáticos. Isso também levou à demonização do [Instituto de Virologia de Wuhan] e alguns de seus colaboradores ocidentais, bem como a tentativas partidárias de tirar as verbas de certos tipos de pesquisa (como a pesquisa de ‘ganho de função’).” Hoje sabemos que a atmosfera venenosa em torno da questão do vazamento de laboratório foi deliberadamente criada por Anthony Fauci e um punhado de cientistas envolvidos em pesquisas perigosas no laboratório de Wuhan. E o argumento para proibir a pesquisa de ganho de função nunca foi tão forte.
Um dos poucos jornalistas científicos que levou a sério a questão do vazamento de laboratório foi Donald McNeil, Jr., o veterano repórter do New York Times que foi forçado a sair do jornal em um absurdo pânico de DEI. Após deixar o Times — e como vários outros jornalistas cobrindo a questão do vazamento de laboratório — McNeil publicou suas reportagens em seu próprio blog no Medium. É revelador que, em um momento em que as principais publicações científicas eram avessas a explorar o maior mistério científico de nosso tempo, algumas das reportagens mais honestas sobre o assunto foram publicadas em veículos independentes financiados por leitores. Também é instrutivo notar que a jornalista que substituiu McNeil na cobertura da Covid no Times, Apoorva Mandavilli, mostrou uma hostilidade aberta à investigação das origens da Covid. Em 2021, ela notoriamente tuitou: “Um dia vamos parar de falar sobre a teoria do vazamento de laboratório e talvez até admitir suas raízes racistas. Mas, infelizmente, esse dia ainda não chegou.” Seria difícil compor um epitáfio melhor para a credibilidade do jornalismo científico dominante.
Viés nos temas das mudanças climáticas e transição de gênero em crianças
Como Shermer observou, muitos jornalistas científicos veem seu papel não como repórteres neutros, mas como defensores de causas nobres. Isso é especialmente verdadeiro na reportagem sobre o clima. Muitas publicações agora têm repórteres em uma cobertura climática permanente, e várias organizações sem fins lucrativos oferecem bolsas para ajudar a financiar a cobertura do clima. A ciência climática é um campo importante, digno de uma cobertura ponderada e equilibrada. Infelizmente, muitos repórteres climáticos parecem especialmente propensos a falácias comuns, incluindo o descuido da taxa de base, e a exagerar dados tênues.
A imprensa científica dominante nunca perde uma oportunidade de aumentar a angústia climática. Nenhum furacão passa sem artigos alertando sobre “desastres climáticos”. E cada grande incêndio florestal aparentemente gera uma manchete de “apocalipse climático”. Por exemplo, quando incêndios florestais em Quebec envolveram o leste dos EUA em fumaça no verão passado, o New York Times chamou isso de “uma temporada de extremos climáticos”. É provável que um planeta em aquecimento resulte em mais incêndios florestais e furacões mais fortes. Mas, ansiosos para convencer o público de que desastres ligados ao clima estão tendendo rapidamente para cima, os jornalistas tendem a negligenciar a taxa de base. Na questão dos incêndios florestais em Quebec, por exemplo, 2023 foi um caso atípico. Nos oito anos anteriores, os incêndios florestais em Quebec queimaram menos hectares do que a média; então, não houve uma tendência de aumento — e nenhum artigo discutindo a escassez de incêndios. Da mesma forma, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, um número abaixo da média de furacões maiores atingiu os EUA entre 2011 e 2020. Mas não houve manchetes sugerindo, por exemplo, “Temporadas calmas de furacões colocam em dúvida as previsões climáticas”.
A maioria dos jornalistas climáticos nem sonharia em chamar a atenção para dados que desafiam o consenso climático. Eles veem seu papel como o de dar um alerta ao público para um problema urgente que será resolvido apenas através de mudança política.
A mesma lógica se aplica a questões sociais. O paradigma da justiça social se baseia na noção de que racismo, sexismo, transfobia e outros preconceitos estão tão profundamente enraizados em nossa sociedade que só podem ser erradicados através de um foco constante no problema. Qualquer pessoa ou instituição que não participe desse processo precisa ser destacada para crítica. Nesse ambiente, é preciso ser um jornalista particularmente corajoso para notar exceções à ortodoxia dominante.
Essa dinâmica é especialmente intensa nos debates sobre medicina transgênero. A última década viu um enorme aumento no número de crianças que afirmam insatisfação com seu gênero. De acordo com uma pesquisa, o número de crianças de seis a 17 anos diagnosticadas com disforia de gênero aumentou de cerca de 15.000 para 42.000 apenas entre 2017 e 2021. O número de crianças para quem foram prescritos hormônios para bloquear a puberdade mais do que dobrou. Os bloqueadores de puberdade e outros tratamentos para disforia de gênero têm enormes consequências potenciais para a vida toda, incluindo esterilidade, disfunção sexual e interferência no desenvolvimento cerebral. As famílias que enfrentam decisões de tratamento para disforia de gênero em jovens precisam desesperadamente de orientação clara e objetiva. Elas não estão recebendo isso.
Em vez disso, organizações médicas e veículos de mídia geralmente descrevem tratamentos hormonais experimentais e cirurgias como rotineiros e até mesmo “salvadores de vidas”, quando, na verdade, seus benefícios ainda são contestados, enquanto seus riscos são enormes. Em uma série de artigos, o cientista político Leor Sapir do Manhattan Institute documentou como os ativistas trans impõem essa aparência de consenso entre cientistas dos EUA, especialistas médicos e muitos jornalistas. Por meio de campanhas em redes sociais e outras ferramentas, esses ativistas forçaram conferências a dispensar cientistas renomados, conseguiram a retratação de artigos científicos após a publicação e interferiram na distribuição do livro de 2020 de Abigail Shrier, Irreversible Damage (“Dano irreversível”, em trad. livre), que questiona a sabedoria do “tratamento afirmativo de gênero” para meninas adolescentes. Enquanto os céticos são intimidados ao silêncio, Sapir conclui, aqueles que defendem a rápida entrada de crianças em terapias radicais de gênero “serão lembrados na história como responsáveis por um dos piores escândalos médicos na história dos EUA”.
Neste ambiente superaquecido, seria útil ter um veículo jornalístico defendendo uma abordagem sóbria e baseada em evidências. Em uma época anterior, a Scientific American poderia ter sido essa voz. Infelizmente, hoje a SciAm minimiza debates complicados sobre terapias de gênero, enquanto oferece platitudes otimistas sobre a “segurança e eficácia” dos tratamentos hormonais para pacientes pré-púberes. Por exemplo, em um artigo de 2023, “O que são bloqueadores de puberdade e como funcionam?”, a revista repete a afirmação sem base de que tais tratamentos são cruciais para prevenir suicídios entre crianças com disforia de gênero. “Esses medicamentos são bem estudados e têm sido usados com segurança desde o final dos anos 1980 para pausar a puberdade em adolescentes com disforia de gênero”, afirma a SciAm.
O jornalista independente Jesse Singal, um crítico de longa data do jornalismo científico descuidado, destrói essas afirmações enganosas em uma postagem no Substack. Na verdade, o uso de bloqueadores de puberdade para tratar disforia de gênero é um fenômeno novo e pouco pesquisado, ele observa: “temos quase zero estudo que acompanhou crianças com disforia de gênero que usaram bloqueadores ao longo de um tempo significativo para ver como elas se saíram”. Singal acha especialmente alarmante ver uma revista científica líder obscurecer a incerteza em torno desses tratamentos. “Acredito que isso será visto como um grande erro jornalístico que será lembrado com constrangimento e arrependimento”, ele escreve.
Felizmente, lampejos de clareza estão surgindo na controvérsia sobre o tratamento de gênero. O New York Times começou recentemente a publicar artigos mais equilibrados sobre o assunto, muito para a irritação dos ativistas. E vários países europeus começaram a reavaliar e limitar tratamentos hormonais para jovens. O Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra recentemente encomendou à respeitada pediatra Hilary Cass que conduzisse uma revisão abrangente das evidências que apoiam a medicina de gênero para jovens. Seu relatório de quase 400 páginas é explosivo, descobrindo que as evidências que apoiam intervenções hormonais para crianças são “fracas”, enquanto os riscos de longo prazo de tais tratamentos têm sido inadequadamente estudados. “Para a maioria dos jovens”, conclui o relatório, “um caminho médico não será a melhor maneira de gerenciar seu sofrimento relacionado ao gênero”. Em abril, o NHS anunciou que não prescreverá mais rotineiramente medicamentos bloqueadores de puberdade para crianças.
A Scientific American ainda não ofereceu uma revisão equilibrada do novo ceticismo científico em relação à medicina agressiva de gênero. Em vez disso, em fevereiro, a revista publicou uma coluna de opinião, “A pseudociência tem sido usada há muito tempo para oprimir pessoas transgênero”. Chocantemente, argumenta-se por ainda menos cautela médica na administração de tratamentos radicais. Os autores observam com aprovação que “muitos ativistas trans hoje pedem a diminuição do papel da autoridade médica em geral no controle de acesso aos tratamentos de saúde trans”, argumentando que os pacientes devem ter “acesso a hormônios e cirurgia sob demanda”. E, em um aviso implícito a quem possa questionar essas afirmações e objetivos, o artigo compara os céticos de hoje da medicina de gênero agressiva a eugenistas nazistas e queimadores de livros. Logo após o lançamento do relatório de Cass, a SciAm publicou uma entrevista com dois ativistas que argumentam que cientistas que questionam a ortodoxia trans estão cometendo “violência epistemológica”.
Não há nada de errado com um debate vigoroso sobre questões científicas. Na verdade, tanto na ciência quanto no jornalismo, a argumentação adversarial é uma ferramenta vital para testar alegações e chegar à verdade. “Uma ideia ruim pode pairar no éter de uma cultura se não houver um hábito de se manifestar”, diz Shermer. Onde alguns ativistas trans ultrapassam os limites é ao tentar descarrilar o debate, tentando intimidar e excluindo qualquer um que desafie o consenso fabricado por eles.
Essa intimidação ajudou a impor outros tabus científicos. Anthony Fauci chamou os cientistas por trás da Declaração de Great Barrington de “epidemiologistas marginais” e fez lobby com sucesso para censurar seus argumentos nas redes sociais. Cientistas climáticos que divergem do consenso dominante lutam para obter financiamento ou publicação para suas pesquisas. A alegação de que o viés racial implícito influencia inconscientemente nossas mentes foi desmentida repetidamente, mas as principais revistas científicas continuam afirmando isso.
Coragem e covardia
Cientistas e jornalistas não são conhecidos por serem tímidos. O que os faz tolerar essa conformidade imposta? A intimidação descrita acima é um fator. A academia e o jornalismo são campos notoriamente inseguros; uma única acusação de racismo ou preconceito antitrans pode acabar com uma carreira. Em muitas organizações, isso dá aos membros mais jovens e radicais da comunidade um poder desproporcional para definir agendas ideológicas.
“Cientistas, editores científicos e jornalistas científicos simplesmente não aprenderam a dizer não a ativistas emocionalmente desequilibrados”, diz o psicólogo evolutivo Miller. “Eles são propensos a cair em chantagem emocional e tendem a ser muito ingênuos sobre os objetivos políticos de ativistas que afirmam que a descoberta científica X ou Y ‘imporá dano’ a algum grupo”.
Mas os cientistas também podem ter o que percebem ser motivos positivos para a autocensura. Um fascinante artigo recente conclui: “Motivações pró-sociais subjazem à censura científica por cientistas”. Os autores incluem alguns dos principais pensadores heterodoxos, incluindo Miller, o membro do Manhattan Institute e economista Glenn Loury, a psicóloga Pamela Paresky, o linguista John McWhorter, o psicólogo Steven Pinker e o cientista político Wilfred Reilly. “Nossa análise sugere que a censura científica é frequentemente impulsionada por cientistas, que são principalmente motivados pela autoproteção, benevolência em relação a colegas acadêmicos e preocupações pró-sociais com o bem-estar de grupos sociais humanos”, escrevem eles.
Seja motivada por boas intenções, conformidade ou medo de ostracismo, a censura científica prejudica tanto o proceder científico quanto a confiança pública. Os autores do artigo sobre “motivações pró-sociais” apontam para “pelo menos um custo óbvio da censura científica: a supressão de informações precisas”. Quando cientistas afirmam representar um consenso sobre ideias que permanecem em disputa — ou evitam certos tópicos inteiramente — essas decisões percolam pela cadeia alimentar jornalística. Descobertas que apoiam a visão de mundo da justiça social são amplificadas na imprensa, enquanto tópicos desaprovados são execrados como desinformação. Não apenas os cientistas perdem a oportunidade de formar uma imagem mais clara do mundo; o público também. Ao mesmo tempo, o público percebe quando as alegações feitas por autoridades de saúde e outros especialistas mostram ter uma base mais política que científica. Uma nova pesquisa do Pew Research descobriu que a porcentagem de americanos que dizem ter “muita confiança” nos cientistas caiu de 39% em 2020 para 23% hoje.
“Sempre que a pesquisa pode ajudar a informar decisões políticas, é importante para cientistas e publicações científicas compartilharem o que sabemos e como sabemos”, diz a editora da Scientific American, Helmuth. “Isso é especialmente verdadeiro à medida que a desinformação e a informação errada estão se espalhando tão amplamente”. Essa seria uma excelente declaração de missão para uma publicação científica séria. Vivemos em uma era em que alegações científicas sustentam enormes áreas da política pública, de Covid a clima a tratamentos de saúde para jovens vulneráveis. Nunca foi tão vital submeter essas alegações a um debate rigoroso.
Infelizmente, os ativistas progressistas de hoje começam com seus resultados políticos preferidos ou conclusões ideológicas e depois tentam forçar cientistas e jornalistas a se alinharem. Sua visão de mundo insiste que, em vez de desafiar a ortodoxia progressista, a ciência deve servir como a sua serva. Esse estilo de pensamento pré-iluminista costumava prevalecer apenas em subculturas políticas radicais e cantos obscuros da academia. Hoje, ele se reflete até mesmo em nossas principais instituições e publicações científicas. Sem um retorno aos princípios fundamentais da ciência — e à tradição mais ampla de discurso e debate baseados em fatos — nossa sociedade corre o risco de ficar à deriva até se chocar com as rochas da irracionalidade.
James B. Meigs é um membro sênior do Manhattan Institute e editor colaborador do City Journal.
©2024 City Journal. Publicado com permissão. Original em inglês.
noticia por : Gazeta do Povo