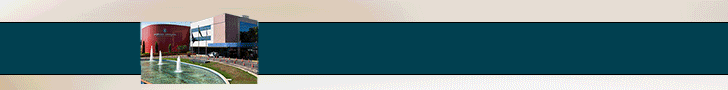É hora de descartar o feminismo?
Na direita, um coro crescente de vozes insiste que sim. O antifeminismo está na moda, dando origem a uma série de novos livros e artigos que apresentam o feminismo como um movimento prejudicial que destruiu a família.
Os “antifeministas” autointitulados variam dos mais brandos até os abertamente hostis. Em uma ponta do espectro estão influenciadores como Andrew Tate e Nick Fuentes, que ganharam um grande seguimento nas redes sociais repetindo epítetos abertamente misóginos e sexistas. Em um campo semelhante estão pessoas como Hannah Pearl Davis, que desdenham alegremente das mulheres modernas, fazendo lobby veementemente pela revogação da 19ª Emenda [emenda à constituição dos EUA que 1920 assegurou o direito de voto às mulheres].
Na outra ponta do espectro está uma forma mais sofisticada de antifeminismo, menos grosseira, mas cada vez mais visível em meios de comunicação mainstream que nunca dariam espaço a figuras como Tate, Fuentes ou Pearl. Uma defensora desse tipo específico de antifeminismo é a autora e estudiosa Carrie Gress, cujo novo livro, “The end of Women [O Fim da Mulher]”, argumenta que o feminismo, “talvez apenas superado pelo marxismo, é atualmente a marca mais poderosa do mundo”, e que essa marca “apagou as mulheres, passo a passo”. De maneira semelhante, o livro “Domestic Extremist [Extremista doméstico]”, de Peachy Keenan, busca documentar as muitas coisas preciosas que “eles tiraram” das mulheres americanas. Keenan critica as “girl bosses [expressão que pode ser usada pejorativamente para designar uma mulher autoritária]” e aponta o feminismo como um dos “vírus que afligem a humanidade”. Outra pensadora antifeminista, Jennifer S. Bryson, argumentou em uma entrevista recente que “o veneno na árvore feminista fazia parte de sua composição desde o início, e, nos últimos 250 anos, seus frutos foram revelados”. Autores como Gress subscrevem a visão de que toda a árvore estava envenenada e não há modo de salvá-la.
Sempre é difícil oferecer uma avaliação justa de críticas históricas abrangentes que são simultaneamente vagas e intensamente moralistas. Isso tem sido observado com bastante frequência nas acusações generalizadas e severas feitas contra (por exemplo) o liberalismo, o capitalismo ou (do outro lado) o “nacionalismo cristão” ou a fé religiosa. Normalmente, esse tipo de crítica começa com uma descrição cuidadosamente adaptada da ideologia malévola e depois procede a fazer conexões com uma variedade vertiginosa de danos que supostamente decorrem dela. Mesmo que as conexões tenham alguma plausibilidade, o fenômeno em questão está tão profundamente entrelaçado com outras ideias e desenvolvimentos históricos que é impossível listar todas as variáveis complicadoras. Não temos realmente ideia de como o mundo moderno poderia ter se parecido sem o liberalismo (digamos), os mercados globais ou o feminismo. Mas, para um certo tipo de crítico, essa incerteza é um presente. Quem pode provar de maneira decisiva que as coisas não teriam sido melhores no universo contrafactual que eles imaginam?
A crítica ao feminismo no estilo Gress-Keenan-Bryson parte do pressuposto de que qualquer coisa boa na vida moderna poderia ter sido desfrutada sem os negativos associados, se a humanidade tivesse evitado certos erros graves. Assim, os antifeministas podem zombar da paranoia selvagem de quem se preocupa que as mulheres modernas possam ser impedidas de possuir propriedades, obter uma educação séria ou concorrer a cargos públicos, enquanto exaltam os casamentos felizes, crianças sorridentes e pratos de biscoitos frescos que supostamente estaríamos desfrutando se não fosse pela influência sombria do feminismo. É um bom exemplo do que eu chamo de “fantasia contrafactual”.
Uma fantasia contrafactual
Na realidade, a pergunta inicial “Deveríamos rejeitar o feminismo?” é redutiva a ponto de fazer pouco sentido. Ela não convida a uma resposta clara de “sim” ou “não” porque o termo “feminismo” não tem uma definição clara e consistente, e os efeitos do “feminismo” foram tanto bons quanto ruins, de maneiras que agora estão profundamente entrelaçadas.
Conforme as nações modernas se tornavam mais ricas e democráticas, abraçando a educação avançada e a redução de carga do trabalho, era inevitável que se vissem às voltas com perguntas difíceis sobre o papel apropriado das mulheres na sociedade. O feminismo, por qualquer definição razoável, foi parte desse processo de adaptação e renegociação. Embora seja conveniente para fins retóricos ver (ou definir) as feministas exclusivamente como perpetradoras de erro, essa tendência realmente nos impede de entender nossa situação presente. Os antifeministas estão ansiosos para identificar um inimigo a ser derrotado, mas a consequência provável de sua defesa é o resfriamento de valiosas linhas de investigação. Pode ser difícil sustentar uma conversa séria sobre os melhores e piores aspectos dos costumes sociais contemporâneos se essa conversa for continuamente abafada pela demanda reacionária de que exorcizemos todos os vestígios do feminismo e voltemos a um tradicionalismo romantizado.
Ainda pior, argumentos antifeministas frequentemente legitimam uma visão reducionista e ignóbil da feminilidade que já se tornou visível de maneira perturbadora nos pensadores abertamente misóginos mencionados acima. Escritores como Keenan e Gress provavelmente não concordariam em aparecer em uma foto sorridente com Tate. Mas eles compartilham premissas importantes e respondem em grande parte a provocações semelhantes. Esses tipos de movimentos paralelos podem facilmente se alimentar mutuamente.
A insustentável leveza do antifeminismo suave
Correndo o risco de me degenerar em abstrações amplas, no entanto, é hora de examinar um trabalho antifeminista específico. “O Fim da Mulher” de Gress é o candidato óbvio.
Este livro é um pouco difícil de classificar. Gress é treinada como filósofa e, ao contrário de Keenan, ela claramente pretende que seu trabalho seja levado a sério e não como uma sátira politizada. No entanto, o livro é evidentemente destinado a um público mais amplo, não apresentado como trabalho acadêmico em si. Gress deixa claro desde o início que pretende examinar seus temas em primeiro lugar como biografias, argumentando que o fio condutor mais importante entre as feministas é que “todas essas mulheres estavam psicologicamente abaladas” por experiências infelizes, sendo que sua dor emocional e desgosto fornecem a verdadeira “motivação para seu pensamento”. Suas vidas são relacionadas em algum detalhe, mas seus textos-chave tendem a ser expostos rapidamente. Gress também faz a estranha escolha de se referir às pensadoras feministas principalmente pelos seus primeiros nomes, não pelos sobrenomes, como seria padrão em trabalhos acadêmicos. Isso dá aos leitores a sensação de estar lendo uma espécie de narrativa de “vidas das feministas”, apresentando anti-heroínas trágicas em vez de santas. Dado que o livro não se concentra em análises acadêmicas, a posição de Gress sobre questões filosóficas ou antropológicas-chave deve ser em grande parte deduzida dos comentários oferecidos ao longo do caminho.
Felizmente, Gress fornece uma quantidade justa de material útil, oferecendo os contornos amplos de uma teoria que pode ser analisada e criticada. Ela sustenta que o feminismo, desde suas origens mais antigas, foi enraizado em erros profundos e condenáveis sobre a natureza da mulher. Começando com Mary Wollstonecraft e continuando por feministas do século XX como Kate Millett e Gloria Steinem, Gress identifica certas semelhanças que ela considera definidoras. Algumas dessas alcançam o nível de teoria. As mulheres, segundo Gress, foram prejudicadas por sua recusa em abraçar sua singularidade em relação aos homens. Preferiram imitar as perfeições dos homens em vez de celebrar sua contribuição social definidora: a maternidade. Como antídoto para essa imitação sem sentido, Gress recomenda evitar a premissa “estéril” que trata a feminilidade como uma manifestação particular de uma natureza humana racional compartilhada por ambos os sexos. Esse pensamento destrutivo, descendente de Wollstonecraft, concentra-se na racionalidade como um aspecto definidor da natureza da mulher e, ao fazer isso, “inicia a castração do conceito de feminino, afastando-o do materno e fornecendo a base para equiparar homens e mulheres de uma maneira que nega qualquer diferença entre os sexos”.
A inveja é um conceito importante na análise de Gress. Feministas antigas como Wollstonecraft, ela argumenta, lançaram as bases para o projeto feminista ao exigir serem reconhecidas como seres racionais e políticos (assim como os homens); feministas posteriores descobriram como concretizar essas demandas por meio do aborto, uma guerra contra o patriarcado e a destruição da família. Em sua discussão do feminismo da segunda onda, Gress reflete extensamente sobre a “identidade impulsionada pela inveja” das mulheres, explicando que:
“Por mais de cinquenta anos, as mulheres têm clamado para se tornarem homens – mental e agora biologicamente -, mas no meio de tudo isso, apagamos o que significa ser uma mulher. O terreno sólido que costumava estar sob nossos pés erodiu, não deixando nada em que se apoiar. Nossa identidade foi montada com esse apego à masculinidade, enquanto o que significa ser uma mulher se dissolveu e agora é uma pergunta sem resposta. Não há mais lugar para ver o que é a feminilidade, tão sagrado quanto fizemos o modelo masculino e a noção neutra de pessoa, ser humano ou indivíduo. Em nossa inveja, as mulheres foram apagadas.”
Uma identidade impulsionada pela inveja certamente parece ruim. Mas esse diagnóstico levanta a pergunta óbvia: o que é a feminilidade? O que realmente significa? Gress fornece uma resposta e dedica o último capítulo de seu livro a isso: uma mulher é uma mãe. A maternidade define a feminilidade como aquilo pelo qual as mulheres deveriam ser conhecidas e valorizadas — aquilo que deveria dar significado às suas vidas. Essa identidade maternal pode ser vivida literalmente ou de alguma forma mais metafórica, mas a maternidade deve, de alguma forma, estar no centro de qualquer vida feminina bem vivida, porque é a “única coisa que apenas as mulheres podem fazer”.
A dicotomia que Gress vê aqui é muito marcante. As mulheres podem avançar com nossa busca impulsionada pela inveja de “ser como homens”, exigindo ser incluídas em atividades tradicionalmente masculinas e insistindo em discussões “esterilizadas” sobre nossa pessoa e natureza humana racional. Ou podemos “voltar para casa, para nós mesmas, como mulheres e como mães”, nos dedicando novamente à administração do lar e “retornando à antiga sabedoria de que ‘estamos aqui para servir [nossos filhos]'”.”
É uma pena que Gress não tenha se envolvido mais diretamente com textos feministas, porque seu argumento enfrenta um problema muito sério, que é bem articulado por muitas pensadoras feministas, incluindo Mary Wollstonecraft, Dorothy Sayers e Simone de Beauvoir. No entanto, não é necessário se imergir em textos feministas para compreender o problema. Gress parece não perceber a importância do fato de que as mulheres são racionais, fato que é central para qualquer discussão sobre virtude ou natureza humana em geral. Muitas das atividades que Gress descarta como “impulsionadas pela inveja” podem ser compreendidas como parte do esforço para atualizar as verdadeiras potencialidades humanas. Se as mulheres são seres humanos racionais e iguais moralmente aos homens, é adequado que elas busquem cultivar as virtudes e exemplificar a verdadeira excelência humana. Mas essa excelência não pode ser categoricamente dividida em formas masculinas e femininas.
O problema com o qual Gress e outros pensadores semelhantes se deparam é uma barreira significativa para quem está determinado a defender uma visão maximalista da diferença sexual. A razão está intimamente ligada à dignidade intrínseca e ao valor de todas as pessoas. Aristóteles explicou que a capacidade de raciocinar eleva os seres humanos acima do restante do mundo natural; somos diferenciados por nossa capacidade de compreender a natureza das coisas e usar essa compreensão para buscar fins bons. Em uma antropologia cristã, a capacidade de amar é considerada primária, mas isso não é uma mudança tão grande quanto se poderia pensar inicialmente. Para amar verdadeiramente uma coisa, devemos compreender sua natureza, e nossa capacidade mais geral de compreender a natureza das coisas é o que nos permite ordenar corretamente nossos amores. O valor intrínseco e a dignidade de um ser humano derivam dessa capacidade de raciocinar e amar, que não pode, como tal, ser determinada pelo sexo.
Mesmo que homens e mulheres sejam claramente diferentes de certas maneiras, eles compartilham uma natureza humana comum (“feitos à imagem e semelhança de Deus”) que abre a possibilidade de ambos os sexos desfrutarem da beleza e dignidade de uma vida virtuosa. O sexo afeta a vida humana, mas sua relevância precisa para atividades, objetivos e papéis sociais pode ser difícil de discernir, e, portanto, não é surpreendente que homens e mulheres estejam sempre envolvidos em um processo contínuo de exploração, negociação e descoberta mútua.
Um sentido perdido de complementaridade
Antifeministas como Gress parecem determinadas a ver as diferenças entre homens e mulheres como categoricamente definidoras do potencial e do propósito de vida de cada indivíduo de maneiras profundas. Alguns problemas difíceis decorrem dessa visão inflexível. Eu sugeriria que não é possível sustentar simultaneamente 1) uma visão clássica antiga de virtude, 2) uma complementaridade sexual robusta e 3) a visão de que os sexos são moralmente iguais. Se as mulheres são simplesmente menos racionais que os homens, poderia fazer sentido relegá-las a um papel social subsidiário com uma gama restrita de atividades e liberdades (assim como as crianças são restritas). Mas, nesse caso, teríamos que reconhecer (pelo menos se entendemos a virtude de maneira amplamente aristotélica) que as mulheres são moralmente inferiores aos homens. Elas não podem manifestar a excelência humana da mesma forma, o que justifica sua gama mais restrita de liberdades e oportunidades. Se, por outro lado, as mulheres são iguais moralmente aos homens e são igualmente capazes de cultivar a virtude, então parece obtuso assumir que o desejo delas de serem tratadas como pessoas racionais e cidadãs de pleno direito é impulsionado pela inveja ou pelo ódio à maternidade. Talvez as mulheres desejem direitos políticos, educação avançada ou uma ampla gama de oportunidades simplesmente porque essas vantagens condizem com seres racionais.
Por ser de extrema importância para Gress ver a diferença sexual como profundamente definidora da natureza humana, as mulheres acabam sendo efetivamente “designadas” para não serem homens, construindo intencionalmente suas vidas em torno das coisas que mais as distinguem dos homens. Isso parece muito semelhante ao que de Beauvoir quis dizer quando descreveu as mulheres como “o segundo sexo”. Os homens podem simplesmente buscar a excelência racional como tal, enquanto espera-se que as mulheres priorizem a distinção sexual em detrimento do desenvolvimento de suas próprias potencialidades particulares.
É sábio ser cauteloso com argumentos que diminuem a importância de reconhecer qualquer grupo específico de pessoas como “seres humanos racionais”. Uma vez que essa realidade é descartada, todo tipo de posições redutoras ou desumanizadoras podem começar a parecer plausíveis. No final de “O Fim da Mulher”, portanto, leitores atentos podem levantar várias perguntas de acompanhamento potencialmente preocupantes, que poderiam ser apresentadas de maneira razoável ao movimento antifeminista de forma mais ampla.
É importante que as mulheres tenham direitos políticos? Gress nunca argumenta que não deveriam, mas realmente, qual é o ponto? Nos foi dito que as ativistas que exigiram esses direitos foram motivadas pela inveja e trabalharam a partir de um paradigma filosófico profundamente falho; enquanto isso, as mulheres foram mães por milênios sem (na maioria dos casos) poderem votar ou ocupar cargos políticos. Existem outros motivos para defender a Décima Nona Emenda, ou deveríamos simplesmente abandoná-la, como figuras como Davis recomendariam?
Da mesma forma, é difícil ver como Gress poderia argumentar de maneira persuasiva pela justa inclusão das mulheres em quase qualquer atividade ou empreendimento não doméstico. Por que os conselhos de administração ou outros empregos de elite deveriam estar abertos às mulheres? Qual é o objetivo de permitir que as cuidadoras busquem diplomas avançados? Gress afirma em sua introdução que “não está argumentando que deveríamos voltar para os anos 1780, ou 1880, ou mesmo 1950”, e que “é grata pelas oportunidades” que teve como mulher. No entanto, ela acredita que “teria sido possível alcançar o que alcançamos como mulheres sem apagar as mulheres por completo”. Esse tipo de qualificação é típico de fantasia contrafactual; Gress não quer que seus leitores se preocupem com as implicações mais desagradáveis de sua visão. Mas, dada toda a sua argumentação, é difícil ver por que as mulheres deveriam ser gratas pelas oportunidades de fazer coisas não maternais. Não é o desejo por tais bens inspirado principalmente pela inveja? Se a maternidade simplesmente é o télos da feminilidade, não tenho certeza qual seria a justificação para mães de cinco (por exemplo) terem doutorados em filosofia.
Mas talvez haja uma justificação. Talvez a educação avançada possa ajudar as mulheres a serem melhores mães, desenvolvendo seus poderes racionais e ajudando-as a crescer em virtude. Uma mulher virtuosa e discernente pode oferecer uma orientação melhor ao marido e aos filhos. E, baseando-se em sua experiência doméstica, ela pode ter muito a oferecer como cidadã também.
Se Gress quisesse desenvolver tal posição, ela poderia se inclinar para o tipo de argumento que:
“Como a criação de filhos, ou seja, o estabelecimento de uma base de saúde sólida, tanto física quanto mental, na geração ascendente, foi justamente insistido como o destino peculiar das mulheres, a ignorância que as incapacita deve ser contrária à ordem das coisas. E defendo que suas mentes podem absorver muito mais e devem fazê-lo, ou nunca se tornarão mães sensatas.”
Se as mulheres são seres racionais, o desenvolvimento das potencialidades relevantes as deixará mais bem preparadas para todas as outras atividades, incluindo a maternidade. É um bom ponto de partida para defender a educação feminina, ao mesmo tempo em que leva a sério a importância da vocação materna. E, como acontece, a citação acima é do livro “Reivindicação dos Direitos da Mulher”, de Wollstonecraft. Talvez Gress e seus colegas antifeministas devessem dar outra chance às primeiras feministas.
O apelo do antifeminismo é óbvio em uma era em que a família parece estar se desintegrando e a confusão sobre a natureza dos sexos é tão profunda. A sociedade moderna é afligida por alguns erros mortais; se pudéssemos rastreá-los até suas fontes originais e eliminá-los, parece que as coisas poderiam melhorar. Este é o tipo de busca que normalmente motiva a fantasia contrafactual. No entanto, no final das contas, não ajuda substituir um tipo de erro por outro.
As mulheres são potenciais mães, e isso é uma verdade muito importante. Mas elas também são seres racionais, o que não é menos importante. Não há substituto para um esforço cuidadoso de reconhecer a verdade em toda a sua complexidade. Se realmente desejamos valorizar a feminilidade e os muitos bens que as mulheres podem oferecer ao mundo, devemos continuar avançando nessa busca.
Rachel Lu é escritora baseada em St. Paul, Minnesota. Seu trabalho já apareceu em The Week, America Magazine, National Review, The American Conservative e outras publicações. Ela possui um doutorado em filosofia pela Cornell University e é bolsista de jornalismo Robert Novak.
©2024 Public Discourse. Publicado com permissão. Original em inglês: The end of feminism
noticia por : Gazeta do Povo